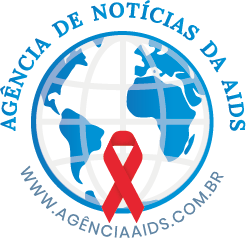Nos últimos dias, o racismo estrutural tem sido o assunto de maior repercussão no mundo. Maior até do que a pandemia do novo coronavírus, que por 3 meses dominou o debate público. Não quero aqui discutir a legitimidade da discussão do racismo, afinal, não há nenhuma dúvida de que discriminação e desigualdade raciais são questões ainda vivas e não solucionadas no mundo. Todos os dados apontam isso. E, infelizmente, os dados relacionados ao HIV e sua pandemia não são uma exceção.
Um estudo interessante realizado por pesquisadores ingleses e sul-africanos foi publicado no final de abril no Journal of Virus Erradication, mostrando que até mesmo a pesquisa clínica desenvolvida na área do HIV menospreza a população negra. Segundo os dados levantados, 42% das pessoas que vivem com HIV em todo o mundo são mulheres negras e 30% são homens negros. Mulheres e homens brancos correspondem a apenas 3 e 6% dessa população, respectivamente.
Apesar disso, a maior parte dos ensaios clínicos desenvolvidos com medicamentos antirretrovirais é realizada com uma maioria de participantes brancos. Considerando, por exemplo, os estudos realizados para a aprovação dos últimos 4 antirretrovirais lançados (Dolutegravir, Bictegravir, Tenofovir Alafenamida e Doravirina), dos participantes incluídos, 7% eram mulheres negras, 17% homens negros, 13% mulheres brancas e 50% homens brancos.
Já de partida, existe um problema crucial na não representação nesses estudos da população que vai usar essas drogas. Ele diz respeito ao seu perfil de possíveis efeitos colaterais que elas podem causar, uma vez que podem variar de acordo com a etnia dos seus usuários. Assim, muitas vezes os antirretrovirais acabam sendo liberados para uso sem que tenham sido satisfatoriamente testados nos grupos populacionais que mais frequentemente os irão utilizar.
A consequência disso é a descoberta de efeitos colaterais apenas depois que a droga já está sendo comercializada, como no caso do ganho de peso que o Dolutegravir provocou em mulheres negras na África Subsaariana.
Estudos mais recentes têm procurado melhorar a questão de representatividade racial. O estudo HPTN083, que há 2 semanas divulgou seus resultados parciais provando a segurança e a eficácia protetora contra a infecção por HIV de uma PrEP injetável de longa duração, é um exemplo disso. Cinquenta por cento dos participantes incluídos nos Estados Unidos tinham sua raça autorreferida como negra.
O racismo estrutural também é facilmente constatado quando analisamos os dados epidemiológicos do HIV no Brasil. De acordo com informações do Boletim Epidemiológico de HIV/Aids do Ministério da Saúde, publicado no final de 2019, praticamente todos os indicadores de saúde são piores na população negra quando comparados com a branca.
Entre os casos notificados de infecção por HIV desde 2007 no Brasil, 40% foram entre brancos e 49% entre negros. Considerando somente as mulheres, esses números vão para 37% e 53%, respectivamente. Em relação às gestantes com HIV, a disparidade fica ainda maior. No ano de 2018, 33% das mulheres grávidas notificadas com HIV eram brancas enquanto quase 62% eram negras.
Entretanto, o mais impressionante dessa análise são os dados sobre os casos de Aids e de mortalidade em decorrência dessa doença, lembrando que HIV é o nome do vírus e Aids o nome da doença que ele causa quando não é diagnosticado e tratado, podendo levar inclusive o indivíduo ao óbito. Portanto, ter casos registrados de Aids e de mortes por Aids são sinais de falhas no cuidado prestado pelo sistema de saúde.
O boletim mostra que, na última década, a proporção de negros entre os casos notificados de Aids aumentou em cerca de 37%, ao passo que, entre brancos, houve redução de 20%. Da mesma forma, em relação às mortes por Aids no mesmo período, houve aumento de 22% na população negra e redução de 22% na branca.
Dessa forma, é fácil perceber que além do SUS (Sistema Único de Saúde) ter piores resultados no enfrentamento da epidemia de HIV/aids na população negra, desde 2009 a tendência tem sido de piora nos indicadores de saúde.
Uma vez que a ciência já sabe que o HIV não causa uma doença mais grave em indivíduos negros e que neles o tratamento desse vírus funciona tão bem quanto em pessoas brancas, os números brasileiros apenas escancaram a forma como a raça/cor de um indivíduo pode influenciar no acesso que ele tem à saúde como um todo, incluindo prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV.
Gostaria, portanto, que fossem incluídas no debate das vidas negras que importam, as vidas negras que vivem e morrem com HIV/aids.
Fonte: Viva Bem