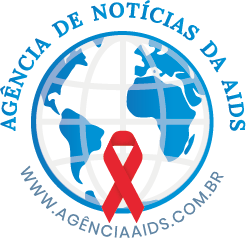‘‘Hoje eu falo por mim, por aquelas que tem voz, mas não falam e por aquelas que sequer sabem que tem voz’’. A mensagem é de Maria Georgina, mulher, negra, ativista, vivendo e resistindo ao HIV há 27 anos.
‘‘Pinga –fogo, esse era meu apelido de infância por eu viver uma exploradora, cientista e peralta. Esse meu jeito de criar um mundo na minha imaginação foi o que me fez corajosa, porque desde pequena passei por situações que me atravessaram muito, primeiro por ser adotada e segundo por ser negra’’.
Das histórias que emocionam no mês da Consciência Negra, a trajetória de Maria Georgina é mais uma dessas que inspiram.
Maria não considera um problema sua adoção, mas destaca que o fato de ser filha adotiva a fez enfrentar discriminações durante a infância. “Na escola, na família, algumas primas e coleguinhas da rua evitavam brincar comigo por eu ser adotada e mandavam eu tomar banho com anil para a pele clarear. Eu sempre fui risonha, prestativa, comprometida, criativa, educada e estudiosa. Meus pais me adotaram quando eu tinha 18 meses de vida, uma ‘cabrochinha de franjas’ bem vivaz, porém de cara vi a rejeição da família por não terem adotado uma branca igual a eles’’, relembra.
Maria Georgina é nascida no Rio de Janeiro. Sagitariana, conta que na sua certidão de nascimento consta o nome de uma mãe que não conheceu. “Eu sequer sei do seu paradeiro, tão pouco o porquê de não ter sido criada por ela, mas, em meio a esses desalentos, fui criada no belo bairro de Cascadura, na zona norte do Rio. Estudei no Colégio Senador Francisco Gallotti, esse é o marco da minha infância, amava cada parte do colégio”.
A ativista conta ainda que se pode dizer que sua infância foi dividida em dois principais períodos: da idade de sua adoção, até os 15 anos, vivendo em Cascadura; e dos 15 aos 26 anos, quando morou em Nova Iguaçu, em uma chácara que seus pais compraram e onde criavam toda espécie de animal.
“Não tenho irmãos, houve um período em que o filho do primo de meu ‘pai’ foi morar conosco, dos 9 anos aos 17 anos de idade, quando foi para o quartel. Mas por ser branco dos olhos cor de mel, me chamava de bruxa do cabelo de vassoura e da pele de jacaré. Nós brigávamos muito e a família em volta só ria”, relembrou Maria.
“[No auge dos meus 18 anos], inventaram que eu tinha que me casar, pois estava dando despesa aos pais adotivos. Tanto fizeram, que me casei em 11 de novembro de 1981. Nesse tempo, já estagiava pela prefeitura do Rio, como professora’’.
Já no ano seguinte, em 1982, nasceu o seu primeiro filho. Maria concluiu a faculdade e se formou professora. Poucos anos depois, em março de 1987 seu esposo faleceu, deixando-a grávida de seu segundo filho, uma menina que nasceu em junho do mesmo ano.
“Um ano depois, eu com 27 anos e com duas crianças pequenas, meus pais resolveram vender tudo e viemos morar em Sergipe. Foi dura e complicada a nossa sobrevivência, principalmente por causa do falecimento de meu pai logo em seguida”, compartilha.
 Descoberta do diagnóstico de HIV
Descoberta do diagnóstico de HIV
Hoje, uma aguerrida ativista na causa da aids defendendo os direitos daqueles que vivem e convivem com o HIV, Maria Georgina, sofreu inúmeras dificuldades logo que descobriu seu diagnóstico.
“Meu primeiro impacto e dificuldade foi de me estabelecer financeiramente e estruturalmente ao chegar em Sergipe. Com um currículo impecável, não foi difícil iniciar minha fase de lecionar em colégios particulares, onde era bem remunerada. No entanto, por mais que eu fizesse tudo certo, havia colegas brancas com marido que eram convidadas para as festas particulares da direção. Apesar de eu não me importar, criar filhos sendo mãe solo não era fácil”.
Nove anos depois, ela conheceu um novo amor. “Encontrei uma pessoa que achei ser meu príncipe encantado, mas havia controvérsias em suas atitudes e resolvi dar um basta na relação. Não demorou nem dois meses e comecei a ter sintomas complicados que foram piorando durante todo o ano [1996], desde perda de peso a cabelo caindo. Podia estar o frio que fosse, acordava com os cabelos molhados e a fraqueza era infinita”.
A situação piorou quando, neste meio tempo, Maria foi demitida de seu trabalho. “Eu mal aguentei ir para o outro, porque muitas vezes desmaiava de tamanha fraqueza. Passei por oito [médicos] clínicos que nunca suspeitaram ser HIV, porque, segundo eles, eu não pertencia ao tal ‘grupo de risco’; Em 1997/98, fiquei internada durante alguns meses para tomar soro e Forsang e, ainda assim, nada de eu aumentar o peso, pelo contrário, estava sumindo a olhos vistos”.
Nesta altura, segundo ela, sua mãe já tinha falecido. Maria desempregada e sua filha caçula, na época com 11 anos, ficam em uma situação de vulnerabilidade social gritante. “O meu filho estava em São Paulo trabalhando como vendedor de livros. Na época as pessoas ainda compravam livros como hobby. Nos anos de 1999 a 2000, fui internada às pressas em um hospital geral pesando 29 quilos. Fiquei lá quase oito meses, tive alta e retornei um mês depois, no dia 1º de Dezembro de 2000, já com 35 quilos. Foi quando recebi a notícia do diagnóstico positivo para o HIV”.
Seu primeiro impacto foi o medo de perder a filha. “Tinha medo de nos separarem, mas explicaram que eu poderia ficar com ela. Nessa época, algumas mães de alunos que gostavam de mim me ajudaram junto aos vizinhos e à família da madrinha de minha filha”.
A militante considera que a sua segunda vida começou após a descoberta do diagnóstico de HIV. “Sabendo que poderia viver com o vírus e ficar perto de minha filha, meu infectologista administrou uma combinação de TARV com a qual logo me adaptei e fui me recuperando rapidamente, tamanha era minha força de viver”, ressalta.
“Pessoas que me conheceram na sala de aula ao longo dos anos, vizinhos e compadres, me ajudaram a erguer-me a cada dia. Apesar desta garra, sofri preconceito dos mesmos parentes que me rejeitaram na infância. Eles me proibiram de eu passar na porta da rua deles, pois justificaram que, além de ser negra, eu envergonharia a família por ter aids. Julgavam, diziam que não sabiam lá por onde andei pra ter essa doença. Além disso, contaram para as mães dos meus alunos que eu tinha o vírus e com isso não pude mais lecionar”.
Todavia, a educadora, sequer por um momento, desistiu de seguir em frente. Ela alugou uma casa e com as poucas coisas que usufruia na época, mudou-se.
“Pessoas já tiveram a coragem de dizer na minha cara que eu posso até ser organizada, mas que por ser negra e, ainda por cima, ter aids, não ficaria bem os seus filhos ficarem perto”, falou ao relembrar as situações de racismo das quais foi vítima.
“Acho que nasci para ser professora, pois amo repartir, retroalimentar experiências, conhecimentos e valores. Tenho sede de livros, por mim todas as mulheres deveriam ter a chance de estudar, de capacitar para a vida social, de passar pelo Projeto Cidadã Posithiva I, de buscar saberes para enfrentar o preconceito e a discriminação. A cada ano, vamos descobrindo que aquele simples gesto de que o “senhor gosta da escrava’ não é amor, é estupro. Só porque somos negras, olham torto quando nos apresentamos como juíza, advogada, médica, professora. Nota-se a diferença de tratamento. Ergo minha cabeça e vou em frente. Estudei para ter uma profissão, mas independentemente disso, sou mulher cis, tenho meus direitos como cidadã brasileira, negra, filha, mãe, avó.
“Considerando que as mulheres negras vivendo com HIV/aids são as que estão em maior número de óbitos, que mais sofrem tanto desigualdades sociais quanto racismo institucional, além do machismo e estereótipos patriarcais, o mercado de trabalho, na maioria das vezes, não é acessível para nós. Ainda mais se associarmos o estigma relacionado ao HIV. Podemos trazer um recorte de situações que as colocam em depressão, problemas de saúde mental e evasão ao tratamento”.
Sonhos de futuro
“Creio que o meu sonho seja o de todas MVHAS: a cura já. Mas enquanto ela não vem, que possamos ter uma política pública eficaz de reparação e combate às desigualdades que determinam a resposta à aids no país, acerca da integralidade do cuidado de todas as mulheres, de acordo com suas especificidades em seus respectivos contextos de vida, considerando marcadores de raça, gênero, classe, deficiência e territorialidade.”
Maria Georgina se define com a palavra alegria. “Ao mesmo tempo que choro, que as lágrimas descem pelo rosto, sinto a alegria que dá para continuar meu caminho”.
Neste Novembro Negro ela deixa uma mensagem de solidariedade, força, acalento e empoderamento para todas as pessoas negras, em especial para as mulheres negras que compõem a pirâmide social: “Que todos os 365 dias do ano sejam de empatia e solidariedade, pois nossas sombras são da mesma cor”.
Kéren Morais (keren@agenciaaids.com.br)
Dica de entrevista