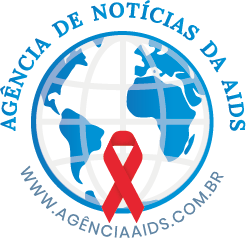16/03/2018 – 19h14
“Venha no outro mês”. Era tudo o que Nilsa escutava quando ia buscar seus antirretrovirais nos postos de saúde venezuelanos. Trinta dias depois, a sentença se repetia. O que pareceu ser uma falha pontual ganhou reprise. E durante seis meses, esse era o único retorno obtido.
Quando os trinta dias viraram sessenta e depois noventa, Nilsa disparou em uma busca desenfreada por informação. Procurou por fundações e grupos de apoio que costumava frequentar. Tudo o que ouvia era que as pessoas estavam morrendo, “que agora tudo está saindo do mal e indo para o pior”. Não há sequer como saber a quantidade de agentes infecciosos que residem no corpo. Um exame para medir a carga viral sai por vultuosos 2,5 milhões de bolívares. Mais de três vezes o valor do salário mínimo no país. O tratamento é gratuito. Mas não existe mais. “Então me voy”, disse ela. Vou para o Brasil.

Essa é a narrativa dos venezuelanos que dependem de antirretrovirais para sobreviver. Até outubro de 2017, a rotina de Nilsa Hernandez, 60 anos, era calculada sem muitos imprevistos. Cuidava da casa, dos netos, dos filhos e bisnetos. Para complementar a ajuda, quase sempre insuficiente, de uma das filhas, fazia bicos como verdureira.
Certeiro mesmo era seu compromisso com o tratamento para o HIV. “Três comprimidos às 8h da manhã”, ela mesma lembra. Desde que pôde tomar as medicações, não as deixou um dia sequer. Na Venezuela funciona assim, se você não tem o índice de CD4 acima de 300, nem adianta pedir tratamento.
Depois que a carga viral atingiu o auge de 1500, quando entrou em depressão pelo filho morto aos 17 anos por “las muchachas” – em uma briga por mulher, foi que Nilsa teve acesso aos remédios. A quantidade de vírus em seu corpo começou a baixar quando, cinco anos depois, o outro filho morreu. Pelo mesmo motivo. Nascida em um país que está entre os 20 mais violentos do mundo, e o segundo mais perigoso da América do Sul (de acordo com o Global Peace Index), restou a ela a depressão e uma forte pneumonia que quase lhe tirou a vida. Hoje, Nilsa sujeita-se à conformação.
Há doze anos sobrevivendo ao trauma, ela se sente golpeada de novo. Lograva uma vida com carga viral indetectável quando a crise se instalou em seu país. E, novamente, as taxas subiram. Nilsa se enfermou. Agora está gripada e com o corpo debilitado. Há seis meses sem medicamento, se viu obrigada a trocar a pátria, a família e tudo o que construiu em 60 anos por antirretrovirais e uma morada de favor. Não é a cura para o HIV, mas o único remédio para impedir que ele se converta em aids é um bilhete de ônibus que desemboque no Brasil.
Roraima tornou-se o eldorado dos soropositivos. Amigos de Nilsa já se programam. Se conseguirem trabalho, ficarão em definitivo. Porque enquanto se está próximo ao coquetel, se tem chance de vida. Onde quer que seja.
O diagnóstico
“Nesse dia eu morri. Sempre fui uma mulher caseira. Pensava que pudesse ter qualquer doença, menos essa. A culpa é da má informação. Quando descobri, pensei que meu mundo estava vindo abaixo. Nesse dia a língua ficou branca. Nesse dia me deu febre, diarreia. Nesse dia senti tudo. Me tranquei no quarto… e a pergunta de sempre: “Por que yo?”. Por que eu?”
Foi há 13 anos, mas o ocorrido ainda lhe arranca lágrimas. Quando toca no assunto, a voz esmorece, o corpo diminui. A face rugosa e o sorriso descomplicado evidenciam que a vida por lá não era fácil. Tentando segurar o choro, abanando as duas mão para fazer vento e assim secar os olhos, ela faz questão de explicar. O ex-marido morreu em decorrência da aids e Nilsa sentiu-se sentenciada de morte. “Estava gorda, não sabia que estava doente. Quando ele morreu já estávamos separados e o doutor mandou me chamou para fazer o teste. Estava lá. Positivo.” A essa altura, ela já estava no segundo casamento e amamentando um menino há seis anos. Para ela, foi “por Dios” que o segundo marido e o pequeno não se infectaram. Foi Deus.
Ainda assim, ele fez o que Nilsa chama de “um sacrifício de amor”. Disse aos parentes que foi ele quem a infectou. Enfrentou a discriminação da própria família por uma doença invisível que sequer possuía. “Fez isso por mim.”
Com apoio do segundo marido e dos filhos, ela voltou a olhar para fora de casa. “Comecei o tratamento e me acostumei a viver com ele.” Se embrenhou em grupos e fundações de pessoas vivendo com HIV/aids. Tornou-se ativista. “Me perguntavam porque eu ia tanto às reuniões. E eu respondia: bom, quando chegar a cura, eu serei uma das primeiras.”
O segundo casamento se acabou porque ele não queria se proteger. “Evitei que ele entrasse para a contagem de pessoas vivendo com HIV”. Nilsa vive hoje o terceiro casamento. O atual companheiro tem certidão de nascimento brasileira. Adotado por um alemão e uma mineira, saiu desde muito jovem para ganhar a vida nos garimpos da Venezuela.

Alex Schaeffer também carrega o vírus em um corpo que não parece, mas está desgastado. Há mais de 12 anos trabalhando nas minas, coleciona doenças como gastrite, problemas de coração e pulmão, típicos da profissão. Ficou três meses hospitalizado, depois de passar dois anos sem cuidar do HIV. Ouviu-se dizer que suas defesas chegaram a quase zero.
Nilsa e Alex se conheceram na época em que tratamento ainda não era sinônimo de luxo. Ela até que relutou para não se envolver com um brasileiro. “Tinha raiva porque foi com uma brasileira que se infectou meu marido que morreu de aids. E logo, infectou a mim. Foi por isso a separação, ele vivia com uma brasileira.” Ela também prometeu a si mesma que não iria se envolver com um soropositivo. “Voy morir de dolor”, dizia. “Pensei que iria morrer de dor se visse ele cair.” O medo de não suportar a agonia de ver um amor doente de aids quase a colocou distante de Alex. À revelia de seus planos, já estão juntos há onze anos.
Vida no Brasil
O país que Nilsa culpava por arrancar suas forças no decorrer uma trajetória marcada por medicamentos, depressão, terapias e grupos de apoio, hoje lhe devolve a fé. Há um mês em Roraima, já sente saudade até do tempero da comida e do sol mais ameno da cidade de Bolívar.
Ainda assim, quando questionada se pensa em voltar para a Venezuela, a resposta vem antes mesmo do fim da pergunta. Não. “É duro porque isso é o responsável por nos separar de nossa família. Estar longe deles tem me afetado muito.” É grande a angústia de quem deixou os oito filhos e nove netos, duas bisnetas para trás. Conseguiu trazer à tiracolo, apenas o neto Brian, oito anos, de quem é responsável pela vida desde três dias de nascido. “Esse não deixo por nada.”
O laudo médico que Alex carrega confirma que ele não pode trabalhar. Ainda assim, decidiu na manhã desta quinta-feira (14) que vai sair pelas ruas de Boa Vista a vender picolé. “Uma coisa é o que o médico diz. Outra coisa é a necessidade.” Já Nilsa, tem sentido os efeitos de um sistema imunológico frágil e dependente da medicina. Está doente. Sente gripe, febre e teme que a pneumonia retorne. Por enquanto, resta esperar.
A despeito das dificuldades, ambos pensam que seria “demasiado pedir mais”. “O hospital aqui é uma felicidade”, dizem eles espantados com o atendimento que, para eles, acontece de maneira eficiente. Ficaram agradecidos por não exigirem qualquer tipo de documentação brasileira ou burocracia para serem atendidos. “Acho que eles pensam… os papéis são com a polícia, aqui nós cuidamos de saúde. Depois se resolvam lá“, diz Alex satisfeito com o início da nova jornada.
“Eles respeitam a fila. Aqui tem hora para chegar. Na Venezuela, se não der um jeito de furar a fila, é um tonto. Tem que passar na frente dos outros para ser inteligente, esperto. Aqui não. Se tentam furar a fila já dizem… ‘Ê! aqui é por ordem chegada’. Lá, ser malandro é moda.” Além disso, a falta de informação é porta aberta para o forte estigma na Venezuela. “As pessoas ainda pensam que se pega aids pelo beijo.”

Enquanto houver saúde e comida, é por aqui que vão ficar. Nilsa se recorda bem de passar a noite na fila do supermercado para conseguir comprar alimento. Empurram. Brigam. Batem. Um dia desses, já em Boa Vista, Brian viu Alex saindo para comprar balinhas com algumas moedas. Quando voltou com um pacote de macarrão, o menino mal podia acreditar. Ele perguntou com olhos pasmos “onde comprou isso por tão pouco?”. “Bom, na Venezuela com moedas não se compra nada. Aqui sim”, respondeu.
Agora, alugaram um quartinho de 300 reais que comporta os três apertados em uma pensão. Vivem com medo de serem expulsos a qualquer momento pela senhora que já não aceita mais venezuelanos no local. Quando um amigo com HIV chegou para se abrigar por uma noite, ela o expulsou. Nem sob pagamento quer refugiados por lá. O desejo do casal é constituir um lar que possa servir de amparo para soropositivos venezuelanos se abrigarem temporariamente.”Tudo se pode melhorar”. Mas, por enquanto, “seria demasiado pedir”.
Jéssica Paula (jessica@agenciaaids.com.br)
Veja aqui a primeira reportagem da série “Aids e refugiados em Roraima”.