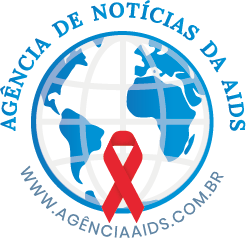No ano em que a pandemia do HIV/ aids completa 40 anos e no mês em que se comemora o orgulho LGBTQIA+, o Sesc São Paulo realizou, em parceria com a Agência Aids, o bate-papo online “HIV 40 anos: desconstruindo estigmas”. A conversa aconteceu no sábado (26) mediada pela jornalista Roseli Tardelli e reuniu o ator e youtuber Gabriel Comicholi, o infectologista Bruno Ishigami, da Clínica do Homem de Recife (PE) e a ativista Jacqueline Côrtes, integrante do Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas e do Movimento Latino-americano e do Caribe de Mulheres Positivas.
Para começar, Roseli quis saber dos convidados o que os tinha levado a participar dessa conversa e disse: “Estou aqui porque sou uma inconformada, não me conformo que o preconceito em relação a todas as pessoas vivendo com HIV/aids ainda existe 40 anos depois e também para honrar a memória das pessoas que morreram com aids, particularmente meu irmão Sérgio, que fez a passagem em 1994. É uma questão muito presente 40 anos depois, precisamos conversar , tentar desconstruir muita bobagem para trazer a aids para o lugar que ela tem que estar.”
Gabriel também declarou se sentir inconformado e ser uma pessoa que não acredita e não entende como um assunto que já está aí há um bom tempo continua com um imaginário tão antigo na cabeça das pessoas. “Estou aqui porque estou sempre tentando lutar para desconstruir essa imagem, para trazer uma cara nova, mais humana para ao HIV e a aids.”
“Estou aqui primeiramente porque estou viva e isso tem um significado muito grande. Eu vivo com HIV há 27 anos. Estou aqui porque eu contrario as estatísticas, eu sou uma mulher transexual de 61 anos e as estatísticas mostram que a maioria morre até 35. Estou aqui hoje para compartilhar saberes, perguntas, respostas com todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui, que têm o seu legado, a sua história e seu compromisso”, respondeu Jacqueline.
Bruno acha muito triste constatar quanto o HIV ainda permanece como uma doença estigmatizante. “Enquanto médico, a minha contribuição junto aos pacientes é dizer que o maior problema não é em relação à doença, à infecção em si, mas o preconceito que essas pessoas vão viver no dia a dia caso estejam dispostas a revelar a sua soropositividade. Então, é importante a gente trazer essa reflexão. O HIV enquanto doença, a gente vem superando, trazendo a expectativa de vida normal em relação às pessoas que não vivem com o vírus, mas o estigma e o preconceito ainda estão presentes. Estou aqui pra ajudar a tentar mudar esse cenário. E o que me joga na história do HIV? Eu resolvi fazer infectologia porque percebi que tinha uma afinidade maior com as populações mais vulneráveis e dentro das doenças infectocontagiosas isso é bem comum. Então, acho que foi pra tentar contribuir de alguma forma nesse sentido.”
O momento do diagnóstico
 Jacqueline Côrtes contou que recebeu o diagnóstico positivo em 1994. “Era outro momento do mundo, outro cenário político, outra realidade. E claro, com muito mais indagações, ignorância. O preconceito foi bastante difícil. Havia um preconceito muito grande com a questão da aids, mas o preconceito era mais ampliado, não que hoje não exista dessa forma. Era primeiro o preconceito do toque, do medo do contágio, da infecção. Encostar a mão em alguém, beber do mesmo copo. Hoje não é tanto assim, nesse aspecto específico. As pessoas tendem a repelir mesmo, eram pessoas repelidas. Aí você se descobre com HIV e a primeira coisa que vem é ‘ninguém vai mais querer tocar em mim, as mães não vão deixar as crianças brincarem comigo, me abraçar…’ O primeiro medo era o de morrer, porque a gente não tinha a terapia antirretroviral, o popular coquetel antiaids, e era sinônimo de morte. A gente tinha um prognóstico médico que não era padrão nem protocolar, mas a gente fazia a fatídica pergunta: doutor quanto tempo eu tenho de vida? Eu e muitas pessoas escutamos, ‘a gente não tem como prever porque a gente não é Deus. A prática nos mostra entre seis e dezoito meses.’ Aí pensei, estou com 34, vou morrer com 35. Então, cai-se em depressão, o estigma… e tinha um componente especificamente falando de mim, que era o auto-estigma. Claro, em um momento em que não se tinha muita informação, peste gay, doença de promíscuos, de pessoa menor, vulgar…Eu pensei, eu vou entrar nesse bojo. Eu não me considerava uma pessoa menor, muito menos vulgar, no sentido pejorativo da palavra. E eu tinha esse medo de eu me enxergar de uma maneira que eu não enxergava e da sociedade me enxergar assim. Foi um momento bastante difícil, complicado e o que me deu um alento no momento, foi justamente ajuda. Eu descobri o HIV muito por acaso, fui professora, dava aula, fiquei afônica, fiquei rouca, fiquei sem voz. Isso durou um mês, fui em um otorrinolaringologista do convênio. Aí estava com candidíase, exame de HIV não conclusivo, Elisa, em um mês Western Blot positivo e foi assim. A questão amigos foi essencial. Uma professora amiga minha que também era assistente social me levou em um grupo de pessoas que vivem com aids para me tirar do isolamento. O isolamento mata mais do que qualquer coisa, em qualquer situação da vida. Eu tinha medo de ver um monte de gente doente, magra, morrendo e aquela imagem que a gente tinha do Cazuza na capa da Veja. Ela me convenceu e eu cheguei no Grupo de Incentivo à Vida (GIV) e felizmente era um grupo de pessoas que viviam com aids, geriam o grupo e ali eu fui aprendendo que o HIV não era aquela fantasia que a sociedade criou, que eu achava que era quando eu tive contato com todas as “categorias” de seres humanos.”
Jacqueline Côrtes contou que recebeu o diagnóstico positivo em 1994. “Era outro momento do mundo, outro cenário político, outra realidade. E claro, com muito mais indagações, ignorância. O preconceito foi bastante difícil. Havia um preconceito muito grande com a questão da aids, mas o preconceito era mais ampliado, não que hoje não exista dessa forma. Era primeiro o preconceito do toque, do medo do contágio, da infecção. Encostar a mão em alguém, beber do mesmo copo. Hoje não é tanto assim, nesse aspecto específico. As pessoas tendem a repelir mesmo, eram pessoas repelidas. Aí você se descobre com HIV e a primeira coisa que vem é ‘ninguém vai mais querer tocar em mim, as mães não vão deixar as crianças brincarem comigo, me abraçar…’ O primeiro medo era o de morrer, porque a gente não tinha a terapia antirretroviral, o popular coquetel antiaids, e era sinônimo de morte. A gente tinha um prognóstico médico que não era padrão nem protocolar, mas a gente fazia a fatídica pergunta: doutor quanto tempo eu tenho de vida? Eu e muitas pessoas escutamos, ‘a gente não tem como prever porque a gente não é Deus. A prática nos mostra entre seis e dezoito meses.’ Aí pensei, estou com 34, vou morrer com 35. Então, cai-se em depressão, o estigma… e tinha um componente especificamente falando de mim, que era o auto-estigma. Claro, em um momento em que não se tinha muita informação, peste gay, doença de promíscuos, de pessoa menor, vulgar…Eu pensei, eu vou entrar nesse bojo. Eu não me considerava uma pessoa menor, muito menos vulgar, no sentido pejorativo da palavra. E eu tinha esse medo de eu me enxergar de uma maneira que eu não enxergava e da sociedade me enxergar assim. Foi um momento bastante difícil, complicado e o que me deu um alento no momento, foi justamente ajuda. Eu descobri o HIV muito por acaso, fui professora, dava aula, fiquei afônica, fiquei rouca, fiquei sem voz. Isso durou um mês, fui em um otorrinolaringologista do convênio. Aí estava com candidíase, exame de HIV não conclusivo, Elisa, em um mês Western Blot positivo e foi assim. A questão amigos foi essencial. Uma professora amiga minha que também era assistente social me levou em um grupo de pessoas que vivem com aids para me tirar do isolamento. O isolamento mata mais do que qualquer coisa, em qualquer situação da vida. Eu tinha medo de ver um monte de gente doente, magra, morrendo e aquela imagem que a gente tinha do Cazuza na capa da Veja. Ela me convenceu e eu cheguei no Grupo de Incentivo à Vida (GIV) e felizmente era um grupo de pessoas que viviam com aids, geriam o grupo e ali eu fui aprendendo que o HIV não era aquela fantasia que a sociedade criou, que eu achava que era quando eu tive contato com todas as “categorias” de seres humanos.”
Gabriel Comicholi disse que “nunca é fácil a gente descobrir essas coisas relacionadas à saúde. Você logo acha que vai morrer. Eu tive uma suspeita de caxumba, um inchaço nos gânglios salivais, no pescoço. Fui fazer uma bateria de exames, entre eles o HIV, e acabei descobrindo assim. Eu recebi um telefonema avisando que eu teria que refazer o exame, que tinha dado uma alteração e eu estava sozinho. Quando abri o resultado, também estava sozinho, tive que lidar de primeira sozinho. O bom foi que eu não tinha o preconceito e o estigma em cima do HIV, então eu consegui enxergar tudo de uma forma diferente, que me fez aceitar muito mais o tratamento, correr atrás de começar o quanto antes. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet e fiquei muito espantado com o que eu encontrei. Ao mesmo tempo que tem muita informação boa, tem muita informação perigosa como dizer que você tem uma estimativa de vida pequena, que você vai morrer, que alguma coisa vai acontecer. Então, eu tive que ir lidando com as informações que as pessoas me traziam, com o que eu lia na internet de bom e de ruim, e eu fui me achando no meio daquilo tudo. No meio dessas pesquisas, acabei achando o Gabriel Estrela e o João Geraldo Netto, que falavam disso no Youtube. Ainda assim, não era uma comunicação do jeito que eu gosto, porque sou muito expansivo, falo desse jeito meio louco. Eu resolvi criar então um canal que, se alguém estiver passando por um momento igual àquele que eu estava passando, tem alguém ali pra dar um conforto, dividir, trocar uma experiência. Foi esse preconceito, esse estigma que me fez colocar minha cara nisso, abrir minha sorologia e não me arrependo nunca de ter feito isso.”
O infectologista Bruno Ishigami contou que 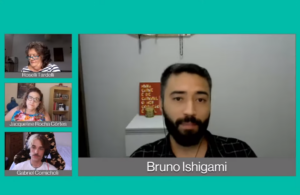 trabalha em dois contextos de população vivendo com HIV. Um é dentro do sistema prisional, que é uma população predominantemente masculina, e na Clínica do Homem, pela AHF. “Aqui a gente trabalha como uma grande clínica de testagem, que também faz diagnóstico e testagem de outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, algumas coisas me chamam a atenção. A população de homens que fazem sexo com homens [HSH], de travestis, de transexuais, conseguem receber a notícia de forma muito mais tranquila. Acredito que por conhecer um pouco mais, por já ter ouvido falar da doença e por conhecer outras pessoas que vivem com HIV. Isso facilita na auto aceitação e na compreensão do que é a infecção. Quando o diagnóstico é para um homem heterossexual, eu percebo que existe uma dificuldade muito grande para aceitar e diria que muito por conta desse estigma que a gente carrega, que HIV é uma doença de gay. Eu percebo essa diferença. Em relação ao momento do diagnóstico, uma das primeiras perguntas que eu faço é como a pessoa está se sentindo e a segunda é se ela conhece alguém vivendo com HIV, porque acho que a partir dessa pergunta eu consigo desarmar um pouco, tipo ‘olha, tá vendo, a pessoa que você conhece realmente leva uma vida normal, ela faz tudo, não tem uma grande interferência na vida dela.’ E também pergunto quais são os medos dela em relação ao diagnóstico. Claro, sempre vem o medo da morte, que é um medo muito compartilhado nesse sentido. E o outro medo é o de alguém descobrir. Esse medo é muito comum. Acho que a briga que a gente tem é muito nesse sentido. Não precisa, não é justificado esse estigma, esse preconceito. É uma coisa completamente irracional nos dias de hoje. É uma infecção como qualquer outra e que tem um controle muito bom. O momento do diagnóstico é sempre muito delicado, porque é um momento em que a pessoa, quer queira quer não, daquele dia pra frente, vai ter alguma coisa que vai acompanhar a vida dela e que vai ter alguma mudança, ir ao médico com regularidade, tomar remédios, coisas nesse sentido. É um momento em que a gente precisa acolher muito esse paciente. Na minha formação de médico, de infectologista, é muito triste constatar que eu não tive nenhuma aula ou um preceptor que me orientasse sobre a hora do diagnóstico, a gente não é ensinado sobre isso na nossa formação. E esse é um momento decisivo para essa pessoa, até para desconstruir na cabeça da pessoa que o HIV é uma infecção e ela vai levar uma vida normal. Talvez ele fique desesperado, queira chorar e é normal. Se o profissional que dá o diagnóstico não tem essa sensibilidade, não está disposto a acolher essa dor do paciente, a gente torna as coisas muito mais difíceis. Uma bandeira que eu levanto enquanto profissional de saúde, é que a gente precisa formar melhor nossos profissionais para a gente conseguir acolher, dar suporte aos pacientes. É uma luta difícil, na área da saúde ainda existe muito conservadorismo, é uma medicina paternalista, que quer tomar conta do paciente e a função da gente não é essa. A gente está aqui para compartilhar o cuidado. Estou aqui pra você, mas você tem responsabilidade pelo seu tratamento também.”
trabalha em dois contextos de população vivendo com HIV. Um é dentro do sistema prisional, que é uma população predominantemente masculina, e na Clínica do Homem, pela AHF. “Aqui a gente trabalha como uma grande clínica de testagem, que também faz diagnóstico e testagem de outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, algumas coisas me chamam a atenção. A população de homens que fazem sexo com homens [HSH], de travestis, de transexuais, conseguem receber a notícia de forma muito mais tranquila. Acredito que por conhecer um pouco mais, por já ter ouvido falar da doença e por conhecer outras pessoas que vivem com HIV. Isso facilita na auto aceitação e na compreensão do que é a infecção. Quando o diagnóstico é para um homem heterossexual, eu percebo que existe uma dificuldade muito grande para aceitar e diria que muito por conta desse estigma que a gente carrega, que HIV é uma doença de gay. Eu percebo essa diferença. Em relação ao momento do diagnóstico, uma das primeiras perguntas que eu faço é como a pessoa está se sentindo e a segunda é se ela conhece alguém vivendo com HIV, porque acho que a partir dessa pergunta eu consigo desarmar um pouco, tipo ‘olha, tá vendo, a pessoa que você conhece realmente leva uma vida normal, ela faz tudo, não tem uma grande interferência na vida dela.’ E também pergunto quais são os medos dela em relação ao diagnóstico. Claro, sempre vem o medo da morte, que é um medo muito compartilhado nesse sentido. E o outro medo é o de alguém descobrir. Esse medo é muito comum. Acho que a briga que a gente tem é muito nesse sentido. Não precisa, não é justificado esse estigma, esse preconceito. É uma coisa completamente irracional nos dias de hoje. É uma infecção como qualquer outra e que tem um controle muito bom. O momento do diagnóstico é sempre muito delicado, porque é um momento em que a pessoa, quer queira quer não, daquele dia pra frente, vai ter alguma coisa que vai acompanhar a vida dela e que vai ter alguma mudança, ir ao médico com regularidade, tomar remédios, coisas nesse sentido. É um momento em que a gente precisa acolher muito esse paciente. Na minha formação de médico, de infectologista, é muito triste constatar que eu não tive nenhuma aula ou um preceptor que me orientasse sobre a hora do diagnóstico, a gente não é ensinado sobre isso na nossa formação. E esse é um momento decisivo para essa pessoa, até para desconstruir na cabeça da pessoa que o HIV é uma infecção e ela vai levar uma vida normal. Talvez ele fique desesperado, queira chorar e é normal. Se o profissional que dá o diagnóstico não tem essa sensibilidade, não está disposto a acolher essa dor do paciente, a gente torna as coisas muito mais difíceis. Uma bandeira que eu levanto enquanto profissional de saúde, é que a gente precisa formar melhor nossos profissionais para a gente conseguir acolher, dar suporte aos pacientes. É uma luta difícil, na área da saúde ainda existe muito conservadorismo, é uma medicina paternalista, que quer tomar conta do paciente e a função da gente não é essa. A gente está aqui para compartilhar o cuidado. Estou aqui pra você, mas você tem responsabilidade pelo seu tratamento também.”
Medicina heteronormativa
Roseli perguntou ao Dr. Bruno se ele considera a medicina ainda muito heteronormativa. Ele afirmou que sim e que os médicos não conversam sobre isso. “Uma colega que trabalha em uma grande clínica que faz cirurgia de redesignação sexual, contou que os cirurgiões plásticos se recusam a implantar silicone nas mamas de pacientes transexuais se eles não quiserem retirar o pênis. Isso é muito heteronormativo. Você não pode decidir sobre o corpo da outra pessoa.”
Jacqueline ressaltou que, para a mulher transexual redesignada como ela, não existe a retirada do pênis, mas uma adequação, uma readaptação a um órgão que continua permitindo que ela tenha prazer. No entanto, deixou de ser um órgão pontiagudo, como o pênis, e passou a seu um órgão interno, como uma vagina. “A autonomia sempre foi, para os ativistas de aids, um ponto crucial, um ponto que tem grande valor. A autonomia das populações, das prostitutas, dos gays, das travestis, das transexuais, das mães, das mulheres, das senhoras e que realmente até hoje, em várias instâncias, essa autonomia é compreendida como um direito mas ela não é praticada, no sentido de permitir que o indivíduo tenha autonomia. Saúde sexual e direitos reprodutivos para todos, todas e todes, mas que atinge especificamente mulheres cis e trans e homens trans, ainda é um tabu em função do conservadorismo, do fundamentalismo religioso.”
A cirurgia
Roseli pediu a Jacqueline para falar sobre o tempo de espera que enfrentou para realizar a cirurgia de redesignação.
“Fiz a redesignação em 2001 no Hospital das Clínicas em São Paulo. Na ocasião, não existia o procedimento transexualizador do SUS, que não preconizava nenhum tratamento. Havia três ou quatro anos que fazer cirurgias experimentais, como eles diziam, de “mudança de sexo”, tinha deixado de ser crime. Então assim que deixou de ser crime, o Hospital das Clínicas fez a cirurgia com verba de projeto acadêmico. Eu fiquei três anos em acompanhamento e, no véspera da cirurgia, já internada, o cirurgião entrou na sala junto com a chefe da endocrinologia que me acompanhava para me examinar, apalpar meu corpo. Aí falei da aids e ele, impactado, questionou a endocrinologista. Contei a ele que também tinha revascularização do miocárdio. Então, ele disse que não me operaria porque eu corria risco de morrer. Argumentei que tinha operado o coração, que era muito mais complexo e que estava ali. Ele respondeu que a cirurgia do coração tinha sido para salvar minha vida e que esta era uma cirurgia eletiva. ‘Eletiva para o senhor, para mim é uma questão de vida ou morte. Não faz sentido a vida pra mim se eu não me auto identificar como a mulher que eu me entendo. É pra mim. Eu não vou andar nua na rua.’ Aí ele me fez assinar um documento me responsabilizando. Anos depois, ele encontrou comigo e me disse: ‘você me ensinou uma coisa na vida, moça. Depois de você, eu passei a operar todas as trans com aids’”, contou emocionada.
Olhar preventivo
Roseli ressaltou o fato de Jacqueline e Gabriel terem descoberto o diagnóstico meio que ao acaso e questionou Dr. Bruno se não falta um olhar preventivo. Acrescentou que vê-se, pelo relato da Jacqueline e dele mesmo, que a medicina aprendeu, mas ainda tem muito a aprender com a vivência que todos eles têm com HIV/aids em seus cotidianos.
“A gente precisa ainda melhorar muito. Tenho bastante interesse em como fazer essa prevenção de forma melhor. São 40 anos já e há pouquíssimo tempo, em duas semanas, eu dei 15 diagnósticos de HIV, todos para pessoas com menos de 30 anos, a maioria entre 18 e 25 anos. Alguns desses pacientes já se testavam regularmente na Clínica do Homem e tinham teste de seis meses atrás negativo. Positivaram agora. Eu fico me perguntando o que a gente, enquanto profissional de saúde, pode fazer para auxiliar melhor nessa prevenção. Uma estratégia que está melhorando aqui no Brasil, ganhando um pouco mais de circulação, é a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). A gente já tem a Profilaxia Pós Exposição há um tempo. Saiu um trabalho, senão me engano de doutorado, do Ricardo Vasconcelos, que mostrou uma redução significativa da incidência de HIV depois que começaram a introduzir a PrEP em São Paulo. Então, acho que além de fornecer os mecanismos da prevenção combinada, que o Ministério da Saúde vem fornecendo há um tempo, falta muito a parte de educação em saúde. O que a gente peca desde o início da pandemia do HIV é na questão da educação sexual, porque se a gente não consegue discutir comportamento sexual, a gente vai continuar na mesma, porque todas as pessoas que passaram pela Clínica, têm noção de como contrair o HIV, como se previne. Mas a gente ainda está errando em alguma coisa. O paciente que vai lá se testar, ele está ciente do risco que corre. Dentro da autonomia dele, ele escolhe como vai transar, com quantos e como vai ser. Trabalhando com a população HSH, eu percebi que a quantidade e a frequência de jovens que fazem sexo grupal é alta, é muito mais alta do que a gente discute dentro da sociedade. A minha sensação é que a gente finge que isso não existe, que essas práticas sexuais não existem, porque a gente vive em uma sociedade conservadora que não está pronta a discutir sobre isso. Mas enquanto a gente não discutir esse assunto, as taxas das ISTs vão continuar aí como estão. Hoje, a gente vive um surto de sífilis constante, pelo menos aqui em Recife. E o que a gente está fazendo em relação a isso? Se a gente não consegue introduzir o tema da educação sexual na escola, que é onde o jovem começa a vida sexual, a gente perde esse jovem. Tem paciente que chega na Clínica que iniciou a vida sexual aos 14 anos de idade e a primeira vez que testou foi aos 20 anos. Olha a quantidade de risco a que esse jovem está sendo submetido. As campanhas de prevenção, mesmo no Carnaval e no Dezembro Vermelho vêm diminuindo. A gente precisa, enquanto sociedade civil, discutir isso. A gente vive hoje uma pandemia de covid que domina o noticiário. Mas a gente está vivendo uma pandemia de HIV desde 1981 e desde então tem gente morrendo de HIV e aids. Os movimentos sociais no Brasil tem uma importância fundamental, conseguimos ser uma referência de políticas públicas para o HIV por conta das organizações não governamentais. A gente precisa continuar a dar voz a eles senão a gente não vai conseguir sair da onde a gente está”, concluiu o médico.
Diante da declaração do Dr. Bruno sobre a quantidade de diagnósticos, Roseli perguntou para Jacque e Comicholi o que é preciso fazer ainda, como sociedade, para ter menos pessoas recebendo esse diagnóstico.
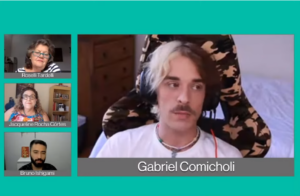 Gabriel disse que “é um assunto muito delicado. Quando a gente fala em comunicação do HIV, a gente tem uma comunicação em datas previstas, quando elas acontecem são de uma forma muito rasa. Eu sei porque recebo isso nas minhas mensagens, nas minhas redes, diariamente. As pessoas só vão atrás da informação sobre o HIV quando recebem o diagnóstico ou quando passam por uma situação de risco. A gente não pode fazer que as pessoas só tenham acesso à informação em um momento de desespero, essa informação tem que chegar a elas organicamente. Há muito tempo a gente vê o assunto sendo colocado para debaixo do tapete, fica muito delicado. É exatamente o que o Dr. Bruno falou, o HIV só é um grande tabu porque a gente não fala de sexualidade, porque a principal via de transmissão dele é a via sexual. Se as pessoas fossem resolvidas com as suas questões sexuais, com as suas sexualidades, a gente já estaria lá na frente. “
Gabriel disse que “é um assunto muito delicado. Quando a gente fala em comunicação do HIV, a gente tem uma comunicação em datas previstas, quando elas acontecem são de uma forma muito rasa. Eu sei porque recebo isso nas minhas mensagens, nas minhas redes, diariamente. As pessoas só vão atrás da informação sobre o HIV quando recebem o diagnóstico ou quando passam por uma situação de risco. A gente não pode fazer que as pessoas só tenham acesso à informação em um momento de desespero, essa informação tem que chegar a elas organicamente. Há muito tempo a gente vê o assunto sendo colocado para debaixo do tapete, fica muito delicado. É exatamente o que o Dr. Bruno falou, o HIV só é um grande tabu porque a gente não fala de sexualidade, porque a principal via de transmissão dele é a via sexual. Se as pessoas fossem resolvidas com as suas questões sexuais, com as suas sexualidades, a gente já estaria lá na frente. “
Jacqueline gostou do termo organicamente usado por Gabriel. “Acho que falta diálogo. Diálogo nas famílias, nas escolas, nos botecos, nas esquinas, mesmo com pandemia, porque as pessoas não gostam de falar em temas nevrálgicos, em uma disciplina, a gente passa por esse momento onde a inconsequência faz parte. Tem uma linha tênue que não é muito agradável ouvir, me parece que o protagonismo de quem vive com aids diminuiu muito, a visibilidade, pelo medo, talvez. Por que medo? Cada um tem uma história eu sei, mas a gente precisa falar de HIV de uma outra maneira. Não podemos falar como se fosse um pecado. E quem muda isso? Não é uma lei, são as pessoas. E pra mudar isso, existe o momento em que você vai se mostrar. Tem as pessoas que conseguem fazer isso e as que não conseguem. E aí digo porque é uma linha tênue. A gente lutou todos esses anos para dizer que não somos coitados, não somos vítimas de nós mesmos, somos protagonistas das nossas histórias. Mas se a gente não toma cuidado com esse extremo, me dá a sensação de que pra muitos desavisados é gostoso ter aids. Não é gostoso ter doença nenhuma. Eu não tenho problema nenhum com meu HIV. Tenho muito mais preocupação do meu coração pifar a qualquer momento do que com o HIV. Se alguém me perguntar, eu digo que é normal viver com HIV, mas não é gostoso. É preciso conversar sobre sexualidade, não ter medo. E tem o imaginário popular. Costumo dizer que para construir um estigma sobre qualquer coisa, basta um apelido que pegou na escola. Mas para descontruir, às vezes vão décadas. E nós estamos há décadas tentando desconstruir que não é nenhum problema ter HIV, mas é uma patologia que a gente vai ter que tratar como qualquer outra, mas que possa ser sem estigma, que eu não precise ter medo de dizer que eu vivo com HIV.”
O papel da comunicação
Roseli lembrou que a comunicação sobre HIV já começou de forma errada. “Se lá atrás a gente não tivesse aquelas manchetes falando sobre câncer gay, grupo de risco, comportamento de risco, se a gente tivesse falado que é um vírus que todo mundo é vulnerável, vai depender da sua situação, disposição em determinado momento, talvez os ganhos que a humanidade construiu em relação ao HIV tivessem sido maiores. Mas a gente não sabia o que estava acontecendo também, faltou pergunta. E a ciência não tinhas respostas também.”
Para finalizar, Roseli perguntou para os convidados o que fazer nas próximas quatro décadas para haver menos estigma e menos discriminação quando falamos em HIV. Dr. Bruno disse que é preciso “entender a importância da coletividade dentro da melhora do mundo que a gente quer viver daqui a alguns anos. E se a gente precisa entender a nossa coletividade, a gente precisa trabalhar para aceitar o próximo.
Já Gabriel acredita que o caminho é “enxergar como um todo e não com o olhar sempre do outro, como algo que não é meu e educar nossas crianças. Eles vão ser nossos governantes no futuro.”
Jacqueline disse que é preciso “menos julgamento. Mais empatia, mais vergonha na cara de quem quer atrapalhar a evolução natural do planeta Terra. É cada um ser quem é, como é e o que é.”
A live está disponível a integra no canal do Youtube do Sesc São Paulo. Confira:
Mauricio Barreira
Dica de Entrevista
Gabriel Comicholi
E-mail: gabrielcomicholi@hotmail.com
Jacqueline Côrtes
E-mail: jacquelinercortes@gmail.com
Bruno Ishigama
E-mail: brunoishigami@gmail.com