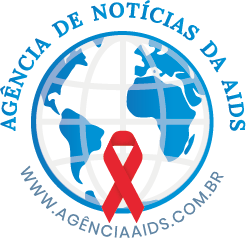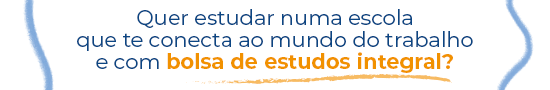O cientista americano Jeffrey Glenn, um dos criadores do conjunto de drogas mais modernas contra a hepatite C, está agora no esforço da ciência para combater a dengue. Pela limitação que o uso de vacinas pode apresentar, Glenn defende que será preciso ter um antiviral no kit de combate à doença, e está trabalhando para isso.
Baseado na Universidade Stanford, o virologista está agora em parceria com brasileiros no desenvolvimento de uma droga que sirva para tratar quem já está infectado, não só para prevenção.
O primeiro fármaco que seu laboratório criou já será testado em camundongos neste ano. Pela explosão de casos doença, Glenn crê que as vacinas não darão conta, sozinhas, de debelar as epidemias espalhadas pelo Aedes aegypti.
“Quando vamos para a guerra, não vamos só com a infantaria ou só com a força aérea. Vamos com as duas. Em saúde pública é a mesma coisa”, afirma.
Em entrevista ao GLOBO em São Paulo, Glenn fala como pretende contribuir para atacar a dengue e outras doenças planejando com cautela e rapidez o desenvolvimento de novas drogas.
– De onde surgiu a droga contra dengue que o sr. pretende testar agora. Ela vem de seu trabalho com hepatite C?
Indiretamente, sim. Quando estávamos estudando hepatite, há vários anos, analisamos diferentes alvos possíveis para drogas candidatas, e identificamos alguns possíveis alvos nos vírus que moléculas pequenas poderiam atacar. E aí veio a Covid-19. Retomamos então esse trabalho para ver se algumas delas poderiam ser úteis contra a Covid-19 também.
Uma delas de fato funcionou bem, e vamos testá-la como droga oral contra Covid, para administrar em conjunto com o inibidor de protease que já está no mercado. Isso ajuda a inibir o surgimento de vírus resistentes.
A partir daí, aconteceu que alguns aspectos do alvo dessa molécula que estão presentes também em outros vírus, incluindo o da dengue, e tínhamos outras moléculas similares.
Achávamos que algumas delas boas contra todos os vírus, e outras seriam melhores contra vírus específicos. E após uma triagem acabamos obtendo algumas moléculas que parecem promissoras contra dengue.
– Como o sr. desenvolveu as moléculas inicialmente?
Nós trabalhamos com química medicinal: projetamos nossas moléculas e as sintetizamos para testá-las contra vírus ou contra partes de vírus. Nesses testes, tentamos aprender em cada passo. Foi bem? Foi mal? Fazemos uma mudança. Melhorou? Piorou? Fazemos mais uma mudança e assim sucessivamente.
Além disso, em todas as iniciativas de química medicinal que temos, desenvolvemos o que chamamos de “relação de atividade estrutural”, que nos ajuda a entender como podemos melhorar a molécula.
Mas quando se pretende desenvolver uma droga potente contra a dengue, por exemplo, isso é só o começo, porque nessa etapa só tratamos a dengue em culturas de células.
Para tratar a dengue in vivo, é preciso otimizar a molécula para um monte de outros parâmetros. Ela tem que ser permeável para cruzar membranas celulares. Ela precisa ser metabolicamente estável para não se degradar rapidamente no corpo. Precisa ter biodisponibilidade oral se quisermos administrá-la na forma de uma pílula.
As pessoas às vezes acham que quando obtemos sucesso em uma cultura de células, a droga já está pronta. Como comparação, isso é apenas colocar o seu dedão dentro na piscina. Desenvolver uma droga real equivale a vencer uma Olimpíada nas provas de natação.
– O sr. tem parceiros brasileiros nesse projeto agora, incluindo Victor Guedes, que é bolsista do programa Ciência Pioneira, ligado ao Instituto D’Or. Como eles estão ajudando?
Essa é uma ponte que espero ver crescer. O Victor faz muitas das triagens in vitro e está ajudando a organizar o teste in vivo. Esperamos que ele conclua o período dele em Stanford e continue colaborando conosco quando voltar ao Brasil.
A dengue, claro, não é um problema tão grave para os EUA quanto é para o Brasil. Representa muito para nós sermos parceiros do Victor, de seu orientador e todas e de outras pessoas incríveis aqui, porque eles nos ajudam muito a alavancar nosso programa para dengue.
– Vocês anunciaram um teste da droga a ser feito em camundongos. Esses animais são bons modelos para simular a dengue humana? Terão de fazer alterações genéticas para usá-los?
Modelos são modelos. Usamos um modelo com camundongos porque eles reproduzem alguns aspectos importantes da doença humana, mas não todos. Em primeiro lugar, queremos assegurar que a molécula é segura, não tóxica e garantir que o uso oral permita atingir uma concentração suficiente da droga no organismo.
Depois disso, queremos saber se ela é de fato ativa contra o vírus in vivo, tal qual prevemos. Se passarmos daí, já é um salto gigantesco no processo de desenvolver uma droga.
Os modelos animais nem sempre conseguem prever a segurança em humanos, por isso estamos trabalhando há vários anos com sistemas mais específicos para humanos. São tecidos de fígado modificados ou camundongos com fígado humano, que podem nos dar mais confiança de que uma droga será segura para pessoas.
– O antiviral contra dengue que vocês buscam desenvolver teria indicação só para casos graves. Ele poderia funcionar para casos leves ou até proteção pré-exposição?
Todas essas alternativas. Talvez um dia, quando eu voltar ao Brasil, eu poderia tomá-lo antes de chegar, para evitar contrair a doença. E ele poderia ser indicado também em casos graves. É difícil prever.
– Uma vacina para dengue deverá ser aplicada em grande escala em 2025. Um antiviral vai ter impacto de saúde pública mesmo que a vacina cumpra seu papel de debelar epidemias?
Vacinas são ótimas para combater vírus, quando elas estão disponíveis, e quando as pessoas tomam as vacinas, caso contrário elas são inúteis. Mas a questão não é se devemos usar uma coisa ou outra, quando nós podemos usar ambas. Quando vamos para a guerra, não vamos só com a infantaria ou só com a força aérea. Vamos com as duas. Em saúde pública é a mesma coisa.
Vacinar contra dengue será muito importante, mas nós definitivamente precisamos desenvolver um antiviral. Vírus sofrem mutações e podem tornar vacinas obsoletas. Veja o que aconteceu com algumas vacinas de Covid-19. E pessoas com problema de imunidade não podem tomar vacinas.
Com um antiviral, nós poderíamos tratá-las um medicamento similar a um antibiótico, mas que ataca vírus em vez de bactérias. Quanto mais ferramentas tivermos para manter as pessoas saudáveis e para ajudá-las depois que adoecem, melhor.
– Antivirais para gripe e para Covid-19 ainda estão muito caros hoje. O que pode ser feito para o mesmo não ocorrer com a droga que seu laboratório desenvolve?
Minha filosofia é a de que, para as drogas terem impacto clínico, temos que assegurar que elas estejam disponíveis para todo mundo, a preços que as pessoas possam pagar.
Há diferentes maneiras de fazer isso. Aquela na qual estou interessado é conceito de precificação atrelada ao Produto Interno Bruto (PIB) de cada país. Mas isso requer um mecanismo para evitar “vazamentos”.
O que isso quer dizer? Se entregamos medicamentos à Mongólia, por exemplo, eles têm que ficar na Mongólia. Provavelmente não vamos ter lucro na Mongólia, mas teremos grande impacto, e podemos obter lucro em países com PIB maior. É uma abordagem ganha-ganha.
É importante fazer isso em pandemias, mas eu acho que isso deveria valer para qualquer droga. Felizmente, em todas as minhas empresas os investidores estão alinhados com esse pensamento e defendem que seja assim.
– Como estão pensando em abordar zica, chicungunha e outras arboviroses? A mesma droga que ataca o vírus da dengue funcionaria para esses outros? Ou seria preciso uma droga para cada um?
As duas abordagens são válidas. Existem, por exemplo, drogas como o interferon lambda, que inclusive teve sucesso contra Covid-19 em teste clínico de fase 3 com colegas do Brasil e do Canadá. Ele é um antiviral de amplo espectro, com origem nas defesas naturais do corpo. Talvez essa estratégia funcione contra zica e chicungunha também.
Outra estratégia seria criar um bom antiviral contra cada um dos vírus, depois misturá-los em um coquetel. Isso seria o ideal, porque às vezes é difícil identificar qual vírus exatamente a pessoa tem. Mesmo com os diagnósticos disponíveis hoje, alguns laboratórios no Brasil ainda têm dificuldade. Com uma droga que ataque todos os vírus, você pode tratar a partir dos sintomas e agir rápido, porque quanto mais cedo atacamos uma viremia, melhor.
– Se vocês chegarem a um ensaio clínico em humanos, o Brasil seria o melhor candidato a abrigar o teste?
Certamente o Brasil seria um grande candidato. O país possui ótima infraestrutura e muita experiência em ensaios clínicos. Além disso, precisamos ir aonde a doença está. Mas há outros lugares, como o Vietnã, que também sofrem com a dengue. Com frequência testes clínicos são realizados em mais de um país.
– Desenvolver um medicamento normalmente leva anos. Quanto tempo pode demorar para termos uma droga contra dengue?
Desenvolvimento de drogas de fato leva muito tempo, e depende de muitos fatores. Por exemplo, quanto mais recursos se tem à disposição, mais rápido ele pode caminhar. Mas não é muito prudente fazer afirmações categóricas sobre quanto tempo vai levar. Nós estamos trabalhando o mais rápido que podemos. Se conseguirmos mais parceiros e mais recursos, ainda podemos acelerar.
E importante: queremos fazer isso não só para a dengue, mas também para gripe e outros vírus, incluindo alguns que possam surgir no futuro. Precisamos trabalhar proativamente, não só reativamente.
Se o mundo tivesse gasto em pesquisas uma fração daquilo que consumiu durante o auge pandemia, nós teríamos obtido uma droga contra coronavírus antes de a Covid-19 explodir. Poderíamos ter parado o vírus em Wuhan, na China. Devemos aprender com essa lição.
Fonte: O Globo