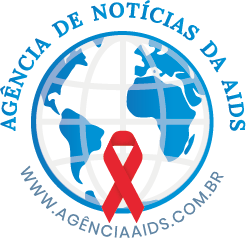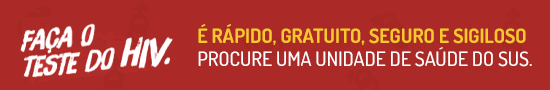Ainda na gestação, em 2016, Thais Emilia descobriu que o filho Jacob era intersexo. Após o nascimento, a psicanalista precisou lidar com o impacto social e a falta de direitos, que começa com a dificuldade de emitir a documentação da criança. ‘Pessoas intersexo são invisíveis’, desabafa
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_51f0194726ca4cae994c33379977582d/internal_photos/bs/2023/c/k/E5JRSqSEiI1oSdj9lZTQ/thais-emilia-jacob-intersexo-2-.jpeg)
Thais Emília já era mãe de duas crianças quando Jacob nasceu, em 2016. Desde a gestação, ela sabia que o bebê era intersexo. “O médico me disse que, onde eles viam um pênis, agora parecia um clitóris aumentado. Mas eu estava preocupada com outras questões que ele tinha no coração e no cérebro, então isso não era um problema”, lembra ela, que é psicanalista e educadora especialista em educação inclusiva, diversidade, sexualidade e gênero.
Assim que deu à luz, ela se deparou com problemas que não imaginou que teria ao longo da gravidez. A primeira delas foi a reação de todos no hospital –de outras mães a enfermeiras. Thais recorda que, nos corredores, Jacob se tornou assunto.
“Lembro de uma mãe me perguntar se meu bebê era menino ou menina, e eu disse que não sabia. Nessa hora, ela gritou pela porta: ‘O bebê aqui do lado é hermafrodita’. Essa reação, para mim, foi como uma violência. A privacidade acabou. O impacto social foi grande.”
A psicanalista também se recorda de uma enfermeira auxiliar que chorava ao olhar para o bebê. A fim de conter a movimentação, uma profissional específica foi designada para cuidar de Jacob. “Chegou ao ponto de pedirem para ela fotos dele durante o banho ou troca de fralda, por curiosidade –o que não aconteceu. Isso não é ético. Ocorreram muitos problemas ali.”
Outro impasse foi com a DNV (Declaração de Nascido Vivo), que não foi emitida, já que não conseguiam afirmar se Jacob era menino ou menina. No Brasil, nessa época, não era permitido o registro de pessoas intersexo, já que a Lei de Registros Públicos determina ser obrigatória a informação do sexo biológico no momento do nascimento.
“Na primeira semana, os médicos realizaram diversos exames para tentar definir o sexo, mas nenhum chegou a uma conclusão. Os exames genéticos demorariam muito e aí um dos médicos propôs: ‘Se ele for XX, fazemos uma vagina e você educa como menina. Se for XY, fazemos um pênis e você educa como menino’. Na hora, questionei se a cirurgia era necessária. E se ele for XXY? Sou educadora e sei que a educação não tem o poder de mudar a identidade de uma pessoa. Por isso, optei por não fazer a cirurgia”, conta Thais.
Sem o documento, ela não teve direito à licença-maternidade de seis meses nem conseguiu registrar o filho, que acabou ficando sem a possibilidade de ter um plano de saúde ou cartão SUS. Era como se Jacob não existisse. “Isso é uma violação gravíssima e, quando o DNV foi negado, percebi que havia muitas brechas na lei para pessoas intersexo. Elas são invisíveis”, desabafa.
O registro só veio depois do exame de cariótipo, que avalia os cromossomos. O resultado apontou que Jacob era do sexo masculino.
O bebê morreu em 2018, pouco antes de completar 1 ano e 8 meses de vida. Ele era portador de uma cardiopatia, e a família chegou a se mudar de São José do Rio Preto para São Paulo, onde ele ficou internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital do Coração. “Foi por meio da história do Jacob que tivemos muitos ganhos no Brasil sobre os direitos de pessoas intersexo”, diz ela.
Falta de políticas públicas
Após o nascimento de Jacob, Thais e Beto procuraram associações e ONGs de apoio a intersexos, mas não encontraram nada. Foi assim que surgiu a ABRAI (Associação Brasileira de Intersexos), que congrega diferentes ativistas em uma mesma causa: a integridade física e psíquica da pessoa intersexo. A associação foi regulamentada em 2018.
Durante todo esse processo, Thais se descobriu também uma pessoa intersexo. “A vida inteira tive alguns problemas hormonais e sempre tomei remédios para não desenvolver características masculinas. Quando o Jacob nasceu, me toquei”, conta. Como uma das fundadoras da ABRAI, a psicanalista passou a lutar pelo direito dos intersexos.
A primeira conquista veio em 2021, quando foi aprovado, em agosto, o pedido de providências de autoria do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Agora, crianças que nascem sem o sexo definido como masculino ou feminino poderão ser registradas com o sexo “ignorado” na certidão de nascimento.
Rachel Macedo Rocha, advogada, doutoranda e mestre em ciências pela EACH/USP, fala sobre a mudança. “É importante lembrar que a Constituição de 1988 proíbe qualquer tipo de discriminação. Apesar disso, as pessoas intersexo enfrentam diversas questões discriminatórias logo no nascimento. O termo ‘sexo ignorado’ é muito forte. Mesmo assim, foi um avanço.”
Rachel completa, dizendo que ainda existem muitas famílias com pouca informação, que não sabem o que fazer nem por onde começar quando nasce um bebê intersexo. “No caso da Thais, foram meses até ela conseguir fazer o registro do Jacob. Quando uma criança intersexo nasce, o certo seria que os médicos fizessem exames para ver se aquele bebê não tem nenhum problema no trato urinário. Mas muitos querem fazer uma vagina, por exemplo, na intenção de resolver o que eles julgam ser um problema, que é a genitália atípica. A medicina ainda é muito pautada nessa questão do dimorfismo sexual: é isso ou aquilo, sem espaço para outra possibilidade. Acreditamos que existam muitas mães como a Thais, que ficaram sem licença-maternidade e outros direitos.”
O termo ‘sexo ignorado’ também gera outros problemas. Mesmo em 2023, ainda não existe um levantamento exato de quantas pessoas intersexo existem no Brasil. De acordo com uma estimativa de 2017 do Conselho de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas), entre 0,5% e 1,7% da população mundial é intersexo. No Brasil, isso significaria 3,5 milhões de pessoas, em média.
“Se a gente tivesse o campo intersexo como foi pedido ao CNJ, teríamos dados mais exatos sobre isso no Brasil e, assim, seria possível planejar mais políticas públicas para essas pessoas. Esse, na verdade, é um problema com a comunidade LGBTQIAPN+. É por isso que precisamos trazer mais visibilidade para essa causa”, reforça Rachel, que aponta o avanço político do conservadorismo como um atraso a essas pautas.
Debate sobre consentimento
Assim que chegou em casa com Jacob, vinda da maternidade, Thais se recorda de ter explicado para os filhos mais velhos sobre como o pequeno cresceria e deveria ser tratado. “Falei: ‘O irmão de vocês nasceu intersexo. Com o tempo, nós vamos perceber se ele se sente mais menina ou menino, ou nenhum dos dois’. O objetivo era naturalizar”, conta.
A medicina pontua mais de 40 DDS (Diferenças de Desenvolvimento do Sexo) categorizadas. Esse fato, no entanto, não é suficiente para saber o que é uma vivência intersexo. Mila Leite, médica e coordenadora científica do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Intersexualidade & Diferenças do Desenvolvimento do Sexo, define pessoas intersexo como alguém com “diferenciações congênitas que alteram o desenvolvimento dos órgãos internos e externos, fazendo com que eles sejam considerados fora dos padrões reconhecidos socialmente como feminino e masculino”. Em outras palavras, “qualquer variação entre macho e fêmea é intersexo”.
De acordo com a médica, é raro que uma pessoa intersexo tenha comorbidades, mas é preciso realizar uma bateria de exames para avaliar cada caso. “A maioria não terá outras alterações. Quando o bebê nasce, exames são realizados para saber se há algum problema no trato urinário e, se o resultado for positivo, é feita uma cirurgia, que tem como objetivo a qualidade de vida. Mas existem casos de pessoas intersexo com deficiência em uma enzima que produz o cortisol, que é um hormônio vital. Sem ele, a pessoa pode até morrer.”
Além dos casos com genitália atípica, como o de Jacob, diagnosticado ainda na gestação, existem casos hormonais, onde a pessoa descobre que é intersexo na adolescência ou na fase adulta. “Um grande guarda-chuva com condições clínicas diferentes”, descreve Mila.
No Brasil, os procedimentos médico-cirúrgicos propostos para os casos de pessoas intersexo estão regulamentados pelo CFM (Conselho Federal de Medicina). Para a cirurgia, é necessário a autorização dos pais. “É uma cirurgia sem volta. Na vida adulta, fica muito difícil resgatar quem você é. Muitas famílias também mantêm segredo, o que é ruim, porque pode levar a pessoa a não se cuidar adequadamente. Tudo isso nos leva a um debate sobre consentimento”, começa Mila.
“É preciso que os médicos levem às famílias que essa cirurgia pode ser feita tardiamente. Existem pessoas intersexo que, já adultas, escolhem esse caminho, mas elas já possuem consciência. O fato é que não existe, em 2023, uma lei que proteja esses bebês de passar por esse tipo de procedimento. Sinto que a sociedade ainda não está pronta para corpos diversos”, finaliza a médica.
Para Thais, o seu grande sonho, junto da ABRAI, é a conquista pelos direitos que seu filho não teve. “As pessoas gostam de questionar as diferenças umas das outras em vez de entender. Intersexos existem, vamos pensar em políticas públicas. Não há nada no Brasil para nós”, diz ela, que escreveu o livro Jacob(y): “entre os Sexos” e Cardiopatias, o que o Fez Anjo?, em homenagem ao filho.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_51f0194726ca4cae994c33379977582d/internal_photos/bs/2023/B/W/barxBSQUGP9vkCD0RqPA/whatsapp-image-2023-04-04-at-22.14.27.jpeg)
Fonte: Marie Clarie