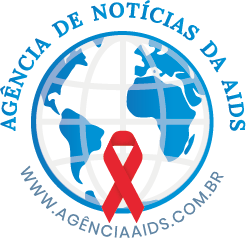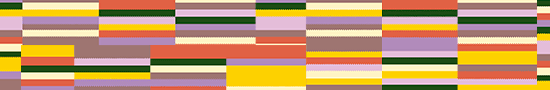Carmen Domingues é uma das participantes de estudo que apregoa a adoção de medidas básicas de proteção como forma de evitar a transmissão do vírus de mãe para filho

Estudo da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP é o terceiro de uma série que acompanha crianças vivendo com HIV/aids no Brasil. O mais recente em particular, analisou a sobrevida – ou seja, a taxa de sobrevivência dos infectados entre o momento do diagnóstico até determinado tempo – das crianças de até 13 anos entre 2003 e 2007.

As crianças são infectadas pelo vírus causador da aids através da chamada “transmissão vertical”, de mãe para filho. Isso pode acontecer durante a gestação, parto ou aleitamento, mas, com medidas básicas de proteção, pode ser largamente evitado. É um problema mundial, dado que em 2022 a Organização Mundial da Saúde (OMS) reportou cerca de 1,5 milhão crianças menores de 15 anos vivendo com HIV/aids. Carmen Silvia Bruniera Domingues, autora dessa pesquisa de doutorado pela FSP, diz que isso ainda é uma realidade no Brasil, mas tem retraído consideravelmente. Desde 1987, quando houve um pico nos casos, cerca de 26 mil crianças tornaram-se crianças vivendo com o HIV. A boa notícia é que, pegando o recorte temporal mais recente, de 2015 a 2022, apenas três mil entraram nesse montante.
Histórico da aids
O primeiro estudo nesse sentido pegou crianças brasileiras que receberam o diagnóstico entre 1983 e 1998. Na época, quando as políticas públicas de prevenção e cuidados ainda eram precárias, apenas metade das crianças sobrevivia até 5 anos após descobrirem a doença.
O segundo estudo, que foi a continuidade do primeiro, estudou crianças diagnosticadas de 1999 a 2002. A conclusão foi bem mais positiva: “A taxa de sobrevida aumentou muito, foi para 88% em cinco anos. Então, no final de cinco anos, 88% das crianças estavam vivas”, conta a pesquisadora.
Já o estudo de Carmen Domingues, publicado recentemente, aponta melhoras ainda mais estabelecidas. Ela acompanhou as crianças por mais tempo, pegando um recorte de nove anos ao invés de cinco. Mesmo assim, a taxa de sobrevida foi de 90%. Das crianças que receberam diagnóstico entre 2003 e 2007, nove em cada 10 estavam vivas depois de nove anos.
Diferenças regionais
Por outro lado, a situação das crianças com HIV/aids no Brasil reflete as desigualdades do País. Carmen Domingues conta que foram observadas diferenças entre as regiões Norte/Nordeste e o restante do Brasil. “Nessas regiões, principalmente no Norte, encontramos uma sobrevida um pouco menor.” Ela explica que lá havia menos cobertura de antirretrovirais e um diagnóstico mais tardio da doença.
Na prática, o resultado dessas diferenças “significa que as crianças já abriram o quadro de aids com o sistema imunológico mais comprometido, com uma carga viral do vírus mais elevada”. Além disso, a falta de prevenção também impactou gravemente a região, em especial a falta de acompanhamento das gestantes: “Mais de 11% das mães nessas regiões não fizeram pré-natal”, diz a pesquisadora.

A conclusão do estudo foi que a região Norte apresentou a menor probabilidade de sobrevida (87%) e a região Sul, a maior (92%). Cidades com muita desigualdade também se destacaram negativamente e mães jovens e solteiras representaram uma parcela significativa dos casos, sendo que uma em cada oito eram ainda adolescentes.
Políticas públicas
A transmissão vertical do HIV é quase totalmente evitável, sendo possível reduzir para entre 1% e 2% dos casos. O acompanhamento da gestação e pós-parto de mães que vivem com HIV é oferecido em grande parte do Brasil. No caso em que a transmissão não possa ser evitada, segundo Carmen Domingues, também é preciso ter políticas públicas específicas para essa população: “É necessário entendermos o que acontece com esses jovens. Eles vivem a questão de usar medicação desde o nascimento, então, precisamos conhecer melhor resistência medicamentosa, adesão aos antirretrovirais…”
Além disso, ela fala de um acompanhamento de como lidar com o diagnóstico em questões subjetivas: “Muitos perderam os pais, tem a questão deles quando começam a vida sexual, como que eles vão revelar o seu diagnóstico para o seu companheiro, tem que ter uma formação educacional, engajamento no mercado de trabalho”. Mas se o básico for feito, hoje a medicina e políticas públicas já estão estruturadas o suficiente para que esses jovens não tenham o que temer.
“Eu diria que hoje o céu é o limite. Se eles fazem tudo certinho, eles vão viver muitos e muitos anos”, finaliza ela.
Fonte: Jornal da USP