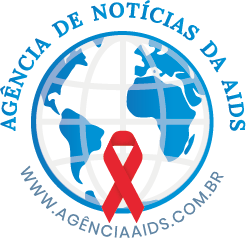Em homenagem ao primeiro Seminário Nacional de Lésbicas (Senale) no Brasil em 1996, criou-se o Dia da Visibilidade Lésbica, celebrado dia 29 de agosto. A data, além de trazer à tona todas as demandas da letra L da sigla, chama a atenção, sobretudo, à cidadania de mulheres lésbicas e como é importante levar em consideração que pessoas LGBT não possuem data de validade. A sexualidade não se desfaz com o passar dos anos, logo mesmo após os 50, 60 e 70 anos mulheres lésbicas continuam na luta por viver a própria liberdade.
Para saber como essas vivências de desdobram, o iG Queer conversou com Valéria Fátima da Rocha, mulher cisgênero e lésbica, de 49 anos. Ela é psicóloga da ONG Eternamente Sou , fundada em São Paulo no ano de 2017, com o objetivo de atender pessoas LGBT idosas. Ela começa contando que cresceu em um ambiente diverso, o que proporcionou que não tivesse nenhum tipo de estranhamento diante das pautas da comunidade.
“Minha mãe era lésbica”, começa. “Convivi tanto com pessoas hétero quanto com pessoas LGBT e me descobrir foi um processo bem natural. Aos 27 anos, porém, passei por um marco que jamais vou esquecer: minha primeira paixão. Foi um relacionamento cheio de entrega e sentimentos que eu nunca tinha vivenciado com pessoas do gênero masculino. Foi quando eu falei: ‘Acho que agora me conheço’”.
Para além da própria experiência, Valéria conta que acompanhou muito a trajetória da mãe como pessoa LGBT e notou que o tempo a cobria de uma maneira diferente. “Eu via minha mãe e as amigas dela envelhecendo e, ao mesmo tempo, surgiam na clínica em que eu trabalhava pessoas LGBT que mostravam um medo claro do envelhecimento. Elas diziam: ‘Caramba, estou ficando barrigudo, preciso fazer musculação’. No caso das mulheres, via-se que a idade as fazia voltar a energia para o cuidado da família”.
A psicóloga conta que a cultura patriarcal que coloca a mulher em uma posição submissa e sempre cuidadora logicamente se reflete na vivência de mulheres lésbicas conforme a idade avança. Neste caso específico, é comum que o fato da pessoa ser LGBT seja completamente ignorado no ambiente familiar, principalmente os que são mais conservadores.
“Anula-se a vida amorosa dessa pessoa. A afetividade dela é ignorada e a mulher não é vista como o ser completo que ela é. São comuns frases como: ‘Faz tempo que você não traz aquela sua amiga, não é?’, desconsiderando o fato de que se trata de uma namorada, por exemplo. Uma vez que aos olhos da família o relacionamento dessa mulher não é válido, irão exigir que ela tenha toda disponibilidade do mundo para se submeter ao que eles desejarem. Mas o mais impressionante disso é que muitas pessoas se veem nesse ‘dever moral’. As mulheres absorvem isso e foi quando comecei a me deparar com a LGBTfobia internalizada”.
Valéria salienta que muitas vezes as mulheres lésbicas deixam-se levar pelos preconceitos enraizados porque falta autoconfiança – que, de acordo com ela, é diferente da autoestima. “A autoconfiança vem com um empoderamento muito maior”, diz. “[Sem a autoconfiança] ela é capaz de deixar o ambiente que ela vive, os amigos e a família que ela conquistou para amparar os familiares biológicos que querem colocá-la nessa posição submissa. Esses casos são muito comuns”.
Sobre a experiência que adquiriu trabalhando na ONG, a psicóloga relata que as demandas são variadas, mas que a principal urgência é tratar as feridas abertas ao longo dos anos que acabam potencializadas conforme a idade avança e essa parcela da população não consegue abordar tais gatilhos da forma correta.
“Tem pessoas que se descobriram na época da ditadura”, exemplifica. “Como você conseguiria se abrir e conversar com alguém sobre a sua sexualidade naquele tempo? Após isso, na década de 1980, veio o surto de HIV/Aids, que foi popularizado como ‘peste gay’. Então muitos pacientes reconhecem, anos depois, que possuem feridas e que deixaram de viver muita coisa”, explica.
Tendo em vista isso, Valéria ressalta como é importante o processo terapêutico e o enfrentamento destas feridas para que mulheres lésbicas depois dos 40/50/60 anos possam de fato viver a própria liberdade sem carregar o peso dos anos em que não pôde fazer isso.
“Essa mulher precisa estar muito consciente de si mesma e ter muita autoconfiança para dizer à família: ‘Nós vamos nos conhecer juntos a partir de agora, porque eu também não conheço tudo a respeito de vocês’, porque os outros não podem querer fazer escolhas por ela, até porque essa mulher tem uma história que precisa ser respeitada”, conclui.
Armários deixados recentemente
Atualmente aos 70 anos, Angela Fontes conta ao iG Queer que começou a se descobrir entre os 15 e os 17 anos. Ela começa destacando que há 68 anos tudo era muito diferente e que crescer em berço católico causou muitos conflitos internos que a impediam de se aceitar em primeiro lugar.
“Eu não questionava muito, mas depois dos meus 19 anos comecei a entrar em uma depressão porque tudo eu achava errado. Minha família era muito católica, minha mãe fazia questão que a gente frequentasse as missas todo domingo e fizesse atividade na igreja, então isso foi me trazendo muitos questionamentos. Eu achava que sentir desejo sexual pelas minhas amigas era pecado”, explica.
O tempo passou sem que houvesse alguém com quem Angela pudesse conversar e se abrir sobre o que sentia. Entre os 20 e 26 anos, ela confidencia que conheceu uma moça com quem teve um relacionamento, mas não durou muito tempo. Posteriormente, quando começou a trabalhar em um hospital, ela teve contato com uma colega de trabalho e as duas começaram a se envolver, e junto veio o preconceito.
“Nós começamos a ficar juntas e eu demonstrava que gostava dela. Nisso, o pessoal que trabalhava com a gente começou a debochar da situação e fazer piadas humilhantes. Era uma homofobia bem escancarada e sofremos bastante por isso. Por conta disso, começamos a esconder o que tínhamos e nos encontrávamos de 15 em 15 dias. Minha família também não sabia”, conta.
Cinco anos depois, Angela e a companheira foram morar juntas. A mãe dela não gostou da decisão e ela destaca como foi uma época solitária da vida que deixou marcas principalmente pela necessidade de esconder um relacionamento devido ao risco de sofrer lesbofobia.

“Fiquei dentro do armário, sem conversar com ninguém. Nós duas não tínhamos amizade, até porque ela própria não aceitava que as pessoas soubessem do nosso relacionamento e o contato que tínhamos era apenas com pessoas hétero. Ela tinha uma homofobia internalizada. Não recebíamos visitas, não saíamos em grupo e isso me causava uma tristeza muito grande”.
O relacionamento caiu na frieza e já não funcionava para elas; foi quando decidiram terminar. Após isso, Angela chegou a ter outro relacionamento – também escondido –, até que conheceu a mulher com quem é casada até hoje.
“Eu tinha trabalhado com ela há 10 anos, mas éramos apenas amigas apesar de eu sentir uma admiração enorme por ela. Acho que eu já a via com outros olhos, mas não tinha percebido. Um dia, uma amiga minha me falou dela e pedi o telefone porque queria reencontrá-la. Nos encontramos em uma tarde para beber uma cerveja e, no outro dia, fomos almoçar juntas. Desde então, não nos separamos mais. Vamos fazer 28 anos de união”, conta.
Depois de conhecer a atual companheira, Angela conta que começou a se envolver mais com a causa da comunidade em si. “Comecei frequentar o Ferro’s bar , inclusive”, relembra. Inaugurado em 1961, o estabelecimento passou a ser referência para a comunidade lésbica de São Paulo no final dos anos 1960, pois muitas frequentadoras eram atuantes no grupo Lésbica-Feminista (LF). Foi lá que começou a circular o boletim “Chanacomchana”, cuja proibição da venda dentro do estabelecimento provocou a primeira manifestação protagonizada por lésbicas contra a discriminação – conhecida como “Stonewall brasileiro”.
Angela também teve contato com a ONG Eternamente Sou e, por meio dos projetos e atendimentos, ela conseguiu sair do armário definitivamente há dois anos. “As pessoas precisam me respeitar como eu sou. Eu tenho que viver minha vida com meus armários abertos, não mais fechados”, declara.
Ao ser questionada se o fato de ter 70 anos causa alguma diferença de tratamento, além da LGBTfobia enraizada, Angela relembra uma situação na qual recebeu olhares que, de acordo com ela, talvez não seriam recebidos por adolescentes lésbicas, por exemplo.
“Se você sentar no barzinho, ficar um pouco mais afastada, chegar uma mulher para sentar com você e as pessoas perceberem alguma coisa, há aquele burburinho, aquela conversinha querendo demonstrar que a mulher gosta de outra mulher porque nunca saiu com homem. Tem um tempo, por exemplo, que eu fui ao shopping com a minha companheira e a neta dela e eu estava usando uma máscara da bandeira arco-íris. Quando fomos comer, eu me sentei à mesa enquanto elas iam fazer os pedidos e, perto de mim, tinha uma família. Eles olharam para mim e começaram a rir”, narra.
“Quando minha companheira voltou, eu disse propositalmente mais alto: ‘Se eles olharem mais uma vez, vou ir até lá e perguntar o que tanto estão encarando. Foi quando sossegaram. Eu percebo que se estamos eu e ela na Frei Caneca e andarmos de mãos dadas, vamos chamar mais atenção do que duas menininhas mais jovens”, finaliza.
Fonte: IG Queer