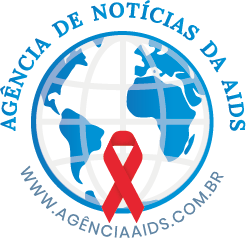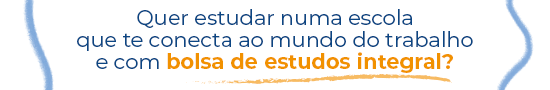Em entrevista à Agência Aids, a ativista Eliane Karajá destaca que pandemia de covid-19 agravou os índices gerais de saúde indígena

Dentre os desafios sociais, culturais e econômicos que enfrentam os povos indígenas, a saúde é uma das questões mais latentes, que demanda atenção prioritária nos debates públicos e nas políticas de saúde. As hepatites virais, doenças diarreicas, a tuberculose, outras infecções respiratórias agudas, e até mesmo o HIV/aids, são algumas das enfermidades que têm batido taxas significativas de prevalência entre comunidades indígenas.
Condições de saúde precárias, somadas às dificuldades de acesso a serviços de saúde adequados e sensíveis às necessidades específicas dessa população, configuram um quadro de desigualdade e vulnerabilidade, que se arrasta há gerações. O Brasil faz parte da lista de países que têm feito esforços para promover a saúde dos povos originários. Em 1999, foi criada a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena (PNASPI), instituída três anos mais tarde (2002). De lá para cá, já são mais de duas décadas desde a implementação desta política que estabelece diretrizes específicas para a saúde das populações indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com objetivo de garantir o acesso a serviços de saúde culturalmente apropriados e que respeitem as especificidades socioculturais e territoriais das etnias. A PNASI é coordenada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e implementada por meio de Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), responsáveis pela organização e oferta de serviços de saúde localizados em áreas e reservas indígenas. Esta política busca promover a atenção integral à saúde, incluindo ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação, além de valorizar os conhecimentos tradicionais e práticas da medicina tradicional nativa.
Neste 19 de abril, Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, a Agência Aids traz um raio x da saúde desta população. Vamos aos dados:
Entre os diferentes grupos étnico, o Brasil tem 1,7 milhão de indígenas, segundo o Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Isso representa 0,83% do total de habitantes. Conforme o levantamento, pouco mais da metade (51,2%) da população indígena brasileira está concentrada na Amazônia Legal. Em 2010, quando foi realizado o Censo anterior, foram contados 896.917 indígenas no país. Isso equivale a um aumento de 88,82% em 12 anos, período em que esse contingente quase dobrou.

O Boletim Epidemiológico de Tuberculose 2023, emitido pelo Ministério da Saúde, mostra que, em 2022, a população indígena representa 1% dos casos novos de TB registrados. Entre pessoas indígenas, houve declínio na proporção de casos curados de tuberculose, que diminuiu de 79,9% em 2019 para 74,4% em 2021, porém houve aumento na parcela de casos em que o tratamento foi interrompido ou em que o desfecho do tratamento é desconhecido, devido a transferências ou falta de avaliação.
Falando das Hepatites Virais, a maior parte dos casos confirmados de hepatite A (cerca de 55,2%), estão concentrados nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, entre 2000 e 2022. As regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste juntas representam 44,8% dos casos, sendo 18,4%, 15,3% e 11,1%, respectivamente. Entre os estados, Amazonas e Paraná têm a maior proporção de casos, com 8,4% e 7,3%, respectivamente.
De 2016 a 2022, houve crescimento na proporção de casos registrados de hepatite A em que a informação sobre raça/cor foi classificada como “ignorada”, subindo de 7,6% em 2015 para 18,3% em 2022. No mesmo ano, entre os casos em que a informação sobre raça/cor foi conhecida, os auto-declarados como brancos representam 44,7% dos casos, enquanto os indígenas 0,1% dos casos. A hepatite B é a segunda maior causa de óbitos entre as hepatites virais. Entre 2000 e 2021, foram registrados 18.363 óbitos relacionados à doença, dos quais 52,8% tiveram a hepatite B como causa principal. O maior coeficiente de mortalidade em todo o período foi verificado na região Norte, com 0,3 óbito por 100 mil habitantes. Em 2022, a distribuição proporcional dos casos de hepatite B de acordo com a raça/cor mostra que a maioria, cerca de 52,3%, ocorreu entre pessoas autodeclaradas pardas e pretas (sendo 41,7% pardas e 10,6% pretas). Em seguida, estão as pessoas brancas, com 36,3% dos casos, seguidas por pessoas amarelas, representando 1,9%, e indígenas, com apenas 0,8% dos casos diagnosticados.
Várias capitais apresentaram taxas de detecção de hepatite C superiores à média nacional de 6,6 casos por 100 mil habitantes. Porto Alegre liderou com 47,2 casos por 100 mil habitantes, seguida por São Paulo, Curitiba, Rio Branco, Porto Velho, Goiânia, Florianópolis, Salvador, Manaus, Boa Vista e Aracaju, todas com taxas acima da média nacional. Houve uma melhoria no registro da raça/cor para os casos de hepatite C ao longo do período analisado. Em 2000, 79,5% dos registros continham essa informação, enquanto em 2022 esse número aumentou para 90,0%. Dos casos com essa informação em 2022, 45,4% foram referidos como brancos, 33,6% como pardos, 9,9% como pretos, 0,9% como amarelos e 0,2% como indígenas. Quanto à hepatite D, de 2000 a 2022, foram diagnosticados 4.393 casos confirmados no Brasil, com a região Norte concentrando a maioria, com 73,1% dos casos. A maioria dos casos ocorreu em homens (58,3%) e a faixa etária mais afetada foi entre 20 e 39 anos, representando 49,9% do total. Quanto à raça/cor, 12,2% dos casos não tinham essa informação. Dos casos registrados, 62,6% eram de indivíduos autodeclarados como pretos ou pardos, sendo 57,4% pardos e 5,2% pretos, seguidos por 17,2% de brancos, 6,7% de indígenas e 1,4% de amarelos. Esse padrão se manteve tanto para homens quanto para mulheres.
HIV/aids
Segundo dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 1 milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil. Dentre elas, cerca de 90% receberam diagnóstico, 81% está em tratamento antirretroviral e 95% dessas têm uma carga viral indetectável. Foram registrados 43.403 novos casos de HIV, sendo 73,6% em homens e 26,3% em mulheres. Entre as mulheres, 63,3% são jovens com idade entre 20 e 39 anos. Houve também 36.753 novos casos de aids, com 71,1% em homens e 28,9% em mulheres. A maioria das pessoas diagnosticadas com aids possui baixo nível de escolaridade, com apenas 27,1% tendo ensino fundamental completo. Aproximadamente 200 mil pessoas com HIV no Brasil ainda não estão em tratamento.

Os números mostram que 89% das pessoas brancas diagnosticadas com HIV estão em tratamento, contra 84% de indígenas.
A PrEP, uma forma de prevenção ao HIV, é mais utilizada pela população branca em comparação com pessoas negras e indígenas. Atualmente, cerca de 73.537 pessoas estão utilizando a PrEP no país, mas somente 0,4% dos usuários da profilaxia são indígenas.
Saúde mental
Problemas de saúde mental também persistem. O Brasil teve mais de 147 mil suicídios entre 2011 e 2022, de acordo com um estudo feito por pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard (EUA) e do Cidacs/Fiocruz Bahia (Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde da Fundação Oswaldo Cruz). A pesquisa mostra que a população lidera os índices de registros de suicídio e autolesões, com mais de 100 casos a cada 100 mil pessoas. Mas, apesar de um maior número de notificações, a população indígena apresentou as menores taxas de hospitalização, o que revela um vazio assistencial no socorro e no suporte em saúde mental.

Imagem: Arquivo pessoal
Eliana Karajá é uma mulher indígena do povo Karajá, também conhecido como iny mahãdu (sua autodenominação). A etnia habita a região dos rios Araguaia e Javaés, nos estados do Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Pará. Eliana há muitos anos milita em prol dos direitos dos povos indígenas, especialmente o direito à saúde. Atualmente lidera a Associação Indígena do Vale do Araguaia (Asiva), em Goiás. Em entrevista à Agência Aids, a ativista afirma que a saúde indígena tem sido sistematicamente negligenciada e afastada das discussões de saúde que deveriam incluí-la.
Apesar de o Brasil contar com uma política nacional de atenção à saúde indígena há mais de 20 anos, Eliana acredita que houve mais retrocessos ou estagnações do que avanços. “Eu atuei na área de saúde, sendo vice-presidente do Condisi (Conselho Distrital de Saúde Indígena), lutando na questão da saúde indígena. E eu não acho que a gente melhorou. Tudo continua um caos. Ainda hoje vemos muitas aldeias completamente esquecidas”, afirma.
Eliana Karajá também destaca que a pandemia de covid-19 teve influência direta e acabou agravando um contexto de vulnerabilidade que já era extremamente delicado e complexo nos territórios. “A gente presenciou na pandemia de covid-19 um abandono total da saúde em geral, mas principalmente em relação aos povos indígenas, tanto nos atendimentos de alta e média complexidade, como também nos atendimentos dentro das comunidades indígenas. Não tem medicamento, o básico do básico. Se você está com uma doença bem mais grave, tem que se virar e comprar. Quem mora nas aldeias, em um contexto aldeado, e os que moram em contexto urbano também não têm condições nenhuma de arcar com suas despesas de medicamentos, porque também precisam comprar comida. Além disso, muitos não trabalham, vendem peixe, vivem da pesca, dos artesanatos…. A gente encontra uma saúde indígena extremamente precarizada, falta medicamento, falta atendimento adequado”, falou. “A gente viu que se nós não arregaçassemos as mãos em prol de o nosso próprio povo sobreviver, íamos morrer abandonados. Se a saúde não-indígena não estava preparada para enfrentar uma pandemia, a saúde indígena menos ainda”, complementou.

Durante a crise sanitária do coronavírus, o povo Karajá adotou várias estratégias para garantir sua sobrevivência. Enquanto os homens trabalhavam com as organizações das quais faziam parte, as mulheres se organizavam coletivamente dentro da associação ACIVA. Elas utilizaram as redes sociais e organizaram uma vaquinha online para arrecadar recursos que foram utilizados para comprar medicamentos, equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros itens essenciais para enfrentar os desafios impostos pela pandemia. “Nós mesmos tivemos que buscar EPIs, mas nem sempre tínhamos garantia de que todos os materiais chegariam, e ainda estávamos em meio a um governo que não ajudava […]. Presenciamos funcionários do próprio distrito participando de festas, [mesmo durante os períodos de isolamento], e depois entrando nas aldeias. Quando tentávamos chamar a atenção para isso, éramos taxados de ignorantes, mas se não alertássemos e não denunciássemos, mais dos nossos teriam morrido devido à falta de assistência, ao descaso e à discriminação que enfrentamos”, compartilhou.
“Tivemos inclusive indígenas que moram nas áreas urbanas tendo negado o direito de sua existência como pessoa indígena, de ser enterrado como pessoa indigena. Foi negado aquilo que guardava de mais orgulho para si, que é a nossa própria identidade. […] E problemas permanecem até hoje, porque muitos ficaram com várias sequelas [da covid-19]. Eu mesma fui internada, fiquei nove dias no balão de oxigênio e muito debilitada. Essa situação ocorreu com outros parentes que, infelizmente, a gente viu morrer, porque não conseguiram ter acesso ao atendimento adequado.”
Suícidio
A ativista também afirma ter visto de perto o aumento dos casos de suicídio em sua comunidade. “Havia um período em que tinha parado um pouco o suicídio no meu povo, mas voltou, e voltou com tudo.”
Violência contra a mulher
Outra questão que se acentuou durante o período pandêmico foram os casos de agressão e feminicídio. “Além de lidar com [o coronavírus] e ver muitos dos nossos morrendo pela covid, a gente viu homens matando mulheres, violentando gravemente as mulheres, mulheres morrendo por agressões físicas, com pauladas, enforcadas…”

Para reverter o cenário, Eliana Karajá acredita que nos estados e municípios, é preciso que esta população ocupe os conselhos de saúde para reivindicar por políticas públicas efetivas que solucionem as necessidades dentro de suas comunidades, como a falta de energia, água potável e de um sistema de encanamento adequado.
O problema do lixo, segundo ela, também é urgente. “Dentro das aldeias se vê muito lixo. Recentemente vi uma mulher indigena, uma senhora já, enchendo a sua canoa de resíduos que ela recolheu. O lixo daquele turista que vai passar a temporada de praia, andar próximo às aldeias para conhecer e jogam lata de cerveja, refrigerante, garrafa pet… é preciso monitoramento.” Nesse contexto, em época de cheia, os rios transbordam e a água contaminada se espalha, aumentando o número de casos, por exemplo, de hepatite.
A ativista expressa ainda preocupação com a falta de visibilidade das questões de educação em saúde, especialmente em relação à prevenção do HIV/aids.
“Na nossa associação a gente trabalha temas como HIV/aids, hepatite virais, sífilis, tuberculose… fazemos roda de conversa dentro das comunidades, levamos testes rápidos; mas o próprio distrito acha que a gente vai tomar o trabalho deles, o que a gente quer é somar […]. É um absurdo [ainda hoje] descobrir crianças [com HIV]. Tem criança que passou mal, fizeram vários testes, e quando fizeram o teste de HIV, positivou. Anteriormente, havia uma cadeira específica dentro do departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, dedicada aos povos indígenas para discutir questões relacionadas ao HIV. No entanto, atualmente essa posição não existe mais e não há diferenciação clara entre os trabalhos do movimento social e necessidades específicas dos povos indígenas, o que dificulta o trabalho do movimento social.”
De acordo com a liderança indígena, equipes responsáveis por realizar os testes de HIV, muitas vezes alegam resistência por parte [dos aldeados], mas destaca que é difícil haver uma relação de confiança com a comunidade, quando falta sensibilidade por parte dos profissionais, inclusive com as especificidades culturaos dos povos, quando mulheres gestantes não recebem um pré-natal e/ou parto adequado . “Quando a gente pontua estas questões, muitos veem como um tipo de perseguição, mas não é. Precisamos cobrar por políticas públicas para as mulheres indígenas. Antes não havia um contexto de índices tão altos, por exemplo, de câncer de colo de útero, de câncer de mama… Sem falar do grande avanço da tuberculose, da sífilis, das hepatites… Essa é a realidade do nosso povo, mas que não se vê falando.”
Além disso, destaca a falta de políticas desenvolvidas no âmbito da vigilância epidemiológica, que contemplem o público LGBTQIAPN+. “Dentro dos povos indígenas existe o público LGBTQIA+, mas eles estão invisíveis.”
Eliana também alerta sobre a coinfecção TB/HIV. “Já tivemos que brigar com enfermeiro diário, porque ele não queria ir ver o paciente que estava lá morrendo, vomitando [por conta da tuberculose] e não queria levá-lo para o hospital, alegando que o paciente não quer ir [ao hospital. Vai lá, conversa, tem um diálogo com a pessoa, informa [com sensibilidade], explica porque precisa ir, porque é grave… é com o diálogo que vai conseguir. Na atuação, a garantia de sigilo diagnóstico ao paciente vivendo com HIV é fundamental. “A gente não pode expor uma pessoa que vai fazer um teste para poder descobrir se vive com HIV. [Mais tarde], toda a população fica sabendo e discriminando [o paciente]. É preciso ter ética de não falar que é um paciente que está com HIV, até mesmo para ganhar a confiança dele e convencê-lo da importância de começar o seu tratamento.”
Eliana Karajá finaliza mencionando que a carga do preconceito, da discriminação, estigma e exclusão social, têm feito pessoas que vivem com HIV/aids tirarem suas próprias vidas, e as comunidades indígenas não estão ilesas deste problema. “Faltam profissionais psicólogos […]. Já houve caso de uma pessoa que disse que se testasse positivo, iria se matar. O profissional de saúde desacreditou, a pessoa de fato positivou e se matou mesmo quando recebeu o diagnóstico, por conta da questão do preconceito contra as pessoas vivendo com HIV/aids. Não queremos que o profissional chegue quando já é para desejar os pêsames, queremos políticas públicas [preventivas] desenvolvidas para a população indígena, mas a gente ainda, infelizmente, ainda barra em diversas burocracias.”
Kéren Morais (keren@agenciaaids.com.br)
Dica de entrevista
E-mail: associacaoasiva@hotmail.com
Instagram: @coletivomulheresiny