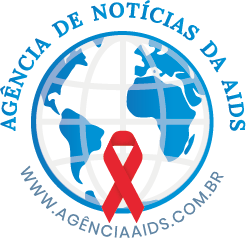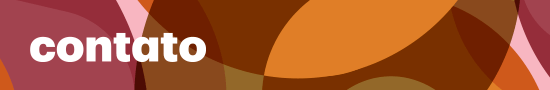Ter HIV é diferente de ter aids, mas ainda em 2020 há quem persista na ignorância de confundir criador com criatura. Sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, o HIV é um retrovírus da subfamília Lentiviridae que causa aids, doença que ataca o sistema imunológico atingindo prioritariamente os linfócitos T CD+4. Com essas células alteradas, o vírus inicia um processo de copiar a si mesmo, multiplicando-se e rompendo os linfócitos. É uma ação contínua e autossustentável, que se não for interrompida deixa o organismo indefeso frente a outras doenças.
Embora incurável, a infecção está longe de ser uma sentença de morte, como chegou a ser encarada nos anos 1980. “Infelizmente, o estigma é grande e ainda nos deparamos com referências como Cazuza, Renato Russo, doença, vida interrompida precocemente… fatos que não são uma realidade em 2020”, explica o médico Ricardo Vasconcelos, infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é responsável pela coordenadoria científica da Pesquisa HIV/AIDS 2020, encomendada pela Genomma Lab e desenvolvida pelo Instituto de Pesquisas A Arte da Marca.
Realizado com o objetivo de mapear e compreender o nível de conhecimento dos brasileiros acerca da epidemia, o estudo aborda também o quanto a população conhece as formas de prevenção e a metodologia disponível para diagnosticar o vírus. Mais de dois mil entrevistados do sexo masculino e feminino, acima de 15 anos e com acesso à internet, fazem parte desse panorama, que apresenta resultados no mínimo preocupantes. Equivocadamente, 32% acreditam que a epidemia está resolvida ou controlada no Brasil, quando as estatísticas mostram um cenário totalmente diverso.
Dados do Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2019 mostram que o país vem registrando nos últimos cinco anos 40 mil novos casos de aids. No total, a estimativa é de que 900 mil pessoas vivam hoje no Brasil com o HIV (Pessoas Vivendo com HIV ou PVHIV) e destas, até 135 mil não sabem de sua condição. Na análise do Dr. Ricardo, a discriminação é uma das grandes causas do desencontro entre fatos e opiniões; e também do diagnóstico tardio.
Com o preconceito rondando o entendimento acerca das formas de contágio, a questão do diagnóstico torna-se ainda mais complexa. Mesmo com 81% dos entrevistados afirmando estarem em dia com seus exames médicos no último ano, apenas 44% realizaram algum teste relacionado às ISTs. Dr. Ricardo explica que o motivo principal é a sorofobia ou estigma sorológico, nome dado ao preconceito e discriminação contra pessoas que vivem com HIV.
“Quando se fala em prevenção, é necessário falar sobre sexualidade, que para os brasileiros é um tabu muito grande. Precisamos abordar o sexo como uma forma de prazer, aproximar o assunto das pessoas”, acredita. Dr. Ricardo afirma que as pessoas normalmente pensam que o HIV é um problema dos outros “que fazem coisas erradas” e não delas, embora muitas vezes quem aponta o dedo é quem também não toma todas as medidas necessárias de prevenção. “É a questão da sorofobia própria e com os outros. Enquanto a pessoa não colocar na cabeça que é um problema da sociedade e de todos os que estão vivos, não conseguiremos controlar novos casos. A melhor maneira é falar abertamente sobre sexualidade”, acredita o especialista.
Segundo o infectologista, esse estigma sorológico pode estar relacionado com a própria pessoa que recebe o diagnóstico ou advir de terceiros. “Já vi pessoas que fazem o teste, recebem o diagnóstico positivo e fingem que nada está acontecendo. Não tomam providência, para não ter que contar que é uma pessoa que vive com HIV”, conta. Apesar de inacreditável, ele afirma que “por medo ou dificuldade de lidar com a sorofobia internalizada, há pessoas que não realizam a testagem, não buscam as profilaxias pré ou pós-exposição e, caso encontrem alguém que também foi infectado, acabam praticando a discriminação”.
A importância do diagnóstico
Buscar o diagnóstico é mandatório para alcançar a boa qualidade de vida, que é totalmente possível para a pessoa com HIV. Outra boa notícia é que há alternativa para quem não quer se expor indo ao laboratório para coleta de sangue, nem ao posto de saúde para uma testagem rápida. O autoteste realizado por meio de fluido oral é rápido, prático e absolutamente confiável para obter um diagnóstico seguro.
“A testagem feita em casa é boa e recomendada pela Organização Mundial de Saúde, indicada principalmente para quem sente dificuldade de acessar uma unidade básica de saúde, por medo da discriminação e do preconceito”, recomenda Dr. Ricardo. “Quando se tem a possibilidade de autoteste com acurácia eficiente, a ideia é fazer com que chegue às pessoas que não têm o hábito de realizar exames com frequência. Nosso estudo mostra que 46% dos entrevistados nunca tinham feito um teste de HIV na vida, ou seja, quase metade da população brasileira. Ampliar é uma necessidade”, enfatiza.
No Brasil, é possível encontrar o autoteste OraQuick®, distribuído pela Genomma Lab, à venda em farmácias. “O autoteste OraQuick® é uma alternativa para quem prefere fazer o teste de HIV em casa, com tranquilidade, segurança e total privacidade. Por isso, acreditamos que contribuirá significativamente para ampliar o diagnóstico e, consequentemente, para o combate ao vírus”, diz Cinthia Ribeiro, diretora de Marketing OTC na Genomma Lab.
O kit é composto por uma haste de coleta, um tubo com solução e folhetos informativos com o modo de utilização e sobre o HIV. Simples e indolor, basta deslizar a haste sobre as gengivas superior e inferior, colocando em seguida na solução. O resultado sai em 20 minutos.
Falta de percepção de risco
Apesar da grande disponibilidade de materiais sobre o HIV e a aids, o tema é negligenciado quando comparado à outras questões de saúde pública e, novamente, a sorofobia se destaca como causa. Ao longo dos anos, termos pejorativos como “aidético” ajudaram a construir um estigma preconceituoso e errôneo sobre a pessoa que vive com HIV, o que também colaborou para a diminuição da percepção de risco da sociedade.
Cuidar da saúde pode ter sido uma prioridade dos brasileiros nos últimos 12 meses, segundo 70% dos entrevistados que participaram da pesquisa coordenada pelo Dr. Ricardo. No entanto, há um dado controverso sobre o comportamento dos entrevistados, já que 94% deles acreditam que têm nenhum ou baixo risco de se infectar com HIV. Além disso, apenas 48% afirmaram que usam preservativo nas relações sexuais, forma mais comum de prevenção.
Na opinião do Dr. Ricardo, a falta de percepção de risco contribui para a falta de diagnóstico e, consequentemente, de tratamento. “Para conseguir fazer com que uma pessoa de fato se proteja, é necessário dar a percepção de risco adequada. Ela tem que entender em que momento está sendo vulnerável e ter as ferramentas de diminuição do risco”, pondera. Acredita-se muito na existência de um grupo de risco com maior propensão ao contágio, mas isso não existe e colabora para a falsa percepção de que o HIV escolhe quem vai se contaminar.
Silvia Almeida, de 56 anos, compartilha até hoje o espanto das pessoas ao contar que vive com HIV desde 1994. Isso porque ela se contaminou através do marido, em um relacionamento monogâmico. Ela relata que quando recebeu o diagnóstico sentiu alívio porque se preocupava com o filho, que tinha pouco mais de um ano e que também fez o teste na ocasião. “Em 93 meu marido começou a ficar doente e fez o teste primeiro. Já não tinha só o HIV, já estava doente com aids. Fiz o teste no comecinho de 94, meu e do meu filho. Ele não ter se infectado foi minha primeira grande vitória contra o HIV”, lembra.
No entanto, Silvia confessa que antes do positivo, também não tinha conhecimento sobre o vírus. “Aids parecia muito distante da vida da gente. Era o grupo de risco* e nós não fazíamos parte, então, quando veio a notícia para nós, primeiro do positivo dele e depois do meu, foi muito chocante”, conta. No primeiro momento, Silvia e o marido contaram apenas para familiares mais próximos sobre o resultado do teste e foi só após a morte dele, três anos depois, que ela buscou ajuda no Grupo de Incentivo à Vida (GIV). “Fui ao GIV para aprender a viver com HIV. E fui entendendo como estava tudo errado. Todos esses julgamentos e estigmas precisavam diminuir”, lembra.
Outro caso que chama a atenção sobre o estigma social, sobre a pessoa que vive com HIV, é o da artista plástica e ativista pela saúde da população negra Micaela Cyrino, de 32 anos. Ela vive com HIV desde que nasceu e foi exposta ao vírus por meio da transmissão vertical. Micaela cresceu em um abrigo para crianças com HIV desde seus 6 anos, quando sua mãe morreu de causas relacionadas à aids e tinha este tema como um assunto totalmente inserido em sua realidade.
“Eu nasci com HIV e esse foi o único tratamento clínico que recebi. Eu convivi com outras pessoas que nasceram com HIV também e que tinham a mesma agenda clínica que eu, então o entendimento do HIV aconteceu junto com meus entendimentos cognitivos. Eu aprendi a ler, então, eu lia as bulas dos remédios, as placas nos hospitais”, explica Micaela.
Micaela conta que na infância, quando ainda não tinha muito entendimento sobre o HIV, recebia orientação de não comentar sobre sua sorologia com outras pessoas. Agora, já adulta, ela entende que a sociedade não tem como saber quem vive com HIV, já que eles têm o direito de manter em sigilo essa informação. “As pessoas [que não vivem com HIV] se excluem da responsabilidade de uma construção de um diálogo, para que essas outras pessoas possam se sentir à vontade para revelar o diagnóstico”, avalia a ativista.
A ativista compartilha que o preconceito que sofre em relação ao HIV é diferente do que é experimentado por pessoas infectadas ao longo da vida. Como Micaela já nasceu com esta condição, acredita que a percepção das pessoas com quem compartilha sua sorologia vem de uma forma diferente. “Como eu nasci com HIV, eu tenho um preconceito velado. Ele vem camuflado de dó, de pena, desse estado que fomos construídas, de responsabilizar o externo”.
Casos como o de Silvia e Micaela são importantes para a conscientização da população. Dr. Ricardo acredita que exemplos como estes podem mudar a percepção de risco das pessoas. “Quando se percebe que uma mulher que não trabalha com sexo e é monogâmica teve o azar de ser infectada, as pessoas prestam atenção no que estava debaixo do tapete”, explica o especialista. As histórias de pessoas que vivem com HIV mostram que, de fato, o vírus não tem “um rosto”, e que não se relaciona com culpabilidade.
Prevenção combinada
A informação segue como a principal ferramenta de combate ao vírus do HIV. Apesar de o preservativo ser um dos principais e mais acessíveis meios de se proteger contra o HIV, existem outras formas que oferecem prevenção combinada. Na pesquisa encomendada pela Genomma Lab, 65% dos entrevistados disseram que se preocupam com a contaminação por HIV, mas apenas 27% destes afirmam que se previnem em todas as relações. Um dos motivos pode ser a falta de conhecimento sobre os métodos preventivos.
Novas estratégias de prevenção já disponíveis nos hospitais e unidades de saúde no país são ferramentas complementares no combate à epidemia de HIV. Além de serem cientificamente eficazes, servem como alternativa ao preservativo. O Tratamento como Prevenção (TcP), a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) são alguns exemplos da prevenção combinada.
Segundo informações da Unaids, o uso de medicamentos antirretrovirais faz com que pessoas vivendo com HIV tenham carga viral indetectável. Pessoas que vivem com HIV e usam estes medicamentos têm melhora significativa na qualidade de vida e menores chances de transmitir o vírus à outras pessoas.
A prevenção combinada por meio da PrEP acontece com a utilização do medicamento antirretroviral em pessoas que não vivem com HIV, mas se encontram em situação de risco elevado de infecção. A partir do momento em que o medicamento circula na corrente sanguínea, ele impede o HIV de se estabelecer no organismo. Já a PEP é a estratégia adotada pelo uso de medicação antirretroviral após qualquer situação onde há risco de contato com o vírus HIV. A medicação impede que o vírus se estabeleça no organismo, mas a profilaxia deve acontecer o mais rápido possível, em até 72 horas, considerando que o tratamento é mais eficaz quando iniciado já nas primeiras horas pós-exposição. Ao longo de 28 dias, a pessoa segue em tratamento.
Para Dr. Ricardo, a prevenção combinada é ideal. “A camisinha é maravilhosa, mas só protege aqueles que usam, e tem que usar de modo correto e constante. Um erro que tivemos nos últimos 35 anos de epidemia de HIV foi achar que 100% das pessoas iam usar [o preservativo], que essa era a única forma de prevenção”, pondera. O especialista usa o exemplo de um casal heterossexual que tem à disposição dezenas de métodos anticoncepcionais, mas que não se protege contra ISTs e HIV, como o caso de Silvia, que contamos acima. “Está vulnerável quem acaba transando sem camisinha, mas para essas pessoas existem outras formas de prevenção, como a PEP e a PrEP. Mas é preciso ter acesso e a informação é a melhor forma de garantir isso”, explica Dr. Ricardo.
Vivendo com HIV
O paulistano Welton Gabriel tem 30 anos, trabalha como educador e vinculador em um instituto cultural e vive com HIV desde 2014. Na época, ele ficou doente e depois de duas consultas com uma médica que tratava seus sintomas como virose, ele foi atrás de uma segunda opinião e pediu testes que até então nunca havia feito. Até aquele momento, Welton conta que nunca tinha feito nenhum teste para HIV ou outras ISTs, e que, na verdade, o tema não fazia parte de sua vida. Welton fez os exames, pegou o resultado e foi para a casa. Quando se lembrou de abrir o exame, viu o positivo. “Aquele momento para mim era o fim, sabe? É o ‘eu vou morrer, acabou’. Naquele momento, para mim, eu não tive um diagnóstico de HIV, mas de aids, então para mim era totalmente o fim”, recorda.
Como era um fim de semana, Welton procurou no Google informações sobre HIV e o primeiro resultado mostrava o cantor Cazuza. “Aí eu tive a confirmação que realmente era o fim. Naquele momento foi confuso, tive medos, anseios, pensava em como seria dali para frente, como contaria para minha família, como seriam os relacionamentos. Eu tinha medo pela falta de informação”, diz.
Foi através de uma pessoa que vivia com HIV que conheceu na internet que Welton entendeu que o diagnóstico não significava necessariamente o fim de sua vida. Ele soube que precisava fazer novos exames para detectar sua carga viral e procurar tratamento. Na semana seguinte, Welton foi ao SAE M’boi Mirim, na zona sul de São Paulo, onde foi acolhido e fez seus exames.
Dr. Ricardo explica que a atitude de Welton foi a mais acertada. Uma pessoa que faz o autoteste OraQuick® e recebe positivo, por exemplo, tem que confirmar o teste para evitar o falso positivo. “Procure um centro de testagem do SUS ou um médico particular e refaça o exame para confirmação. Confirmado, precisa do infectologista que pedirá os exames necessários e vai prescrever o tratamento. Vai acompanhar, o que em 2020 é supersimples: o tratamento é banal, os medicamentos são ótimos, sem efeitos colaterais e superpotentes, dá tudo certo”, explica o especialista.
Ao contrário de Welton, o militar reformado Ruggery Gonzaga, de 29 anos, demorou para procurar ajuda. “O HIV, antes do meu diagnóstico, nunca fez parte da minha rotina. Quando eu sabia alguma coisa relacionada ao HIV, essa palavra nem entrava no meu vocabulário, tudo era aids”, lembra. “A percepção que eu tinha era que a aids era somente para homossexuais, o que é paradoxal porque eu sou um, mas eu achava que era para outros homossexuais distantes. Era algo muito promíscuo e eu associava muito às transexuais, travestis, pessoas magras, gays, doentes. Eu aprendi assim”.
Ruggery nunca imaginou que poderia ser contaminado pelo HIV justamente porque acreditava que HIV era um problema do outro, não dele. Mas o vírus bateu na porta do militar logo, quando um tio, heterossexual e casado, se contaminou. “De repente meu tio adoece e morre naquela figura cadavérica que a gente imagina que a aids desenvolvida faça com alguém. Aquilo me assustou muito. Seis meses depois, eu descobri meu diagnóstico”.
Aos 18 anos, logo após entrar para o serviço militar, Ruggery descobriu que vivia com HIV. Com os sonhos para seguir a carreira na aeronáutica, ele fez o teste porque estava com HPV há mais de seis meses e venceu a vergonha de se mostrar a uma médica porque não aguentava mais a dor. A médica pediu os exames, inclusive para HIV e, dias depois, ainda dentro do quartel, Ruggery recebeu o diagnóstico positivo.
“Naquela hora um buraco abriu, eu caí e foi como se eu estivesse descendo e olhando para cima sem ver a claridade lá em cima. Eu me sentenciei: eu vou morrer, porque foi o que aconteceu com meu tio”, lembra. O atendimento do médico que deu o diagnóstico para Ruggery fez toda a diferença, já que o profissional explicou que ele poderia viver com qualidade de vida apesar do HIV.
Dr. Ricardo explica que a maior dificuldade de lidar com HIV em pleno 2020 não é o tratamento, os efeitos colaterais ou a morte em decorrência da aids, mas a vivência com uma sociedade sorofóbica. “A pessoa vai ter medo de contar do seu HIV para alguém, quando na verdade, sabemos que quem faz o tratamento adequado não vai transmitir mesmo transando sem camisinha”, explica.
Welton e Ruggery concordam que a sociedade tem conhecimento sobre o HIV, mas que, assim como eles, não acredita ser suscetível ao contágio do vírus, mesmo com comportamento de risco. “As pessoas veem o HIV como uma realidade distante, por isso não têm preocupação. Eu acho bacana falar sobre HIV, sobre ISTs em geral, porque hoje não temos mais grupo de risco como antigamente, e nem é correto falar isso. Nós usamos ‘comportamento de risco’ porque qualquer pessoa que tem relação sexual e não saiba o estado sorológico do seu parceiro (a), está vulnerável ao HIV”, pondera Welton.
Ruggery acredita que a informação disponível atualmente é maior, mas que o estigma permanece o mesmo, desde 1980, quando o vírus chegou ao país. “A galera entende, compreende, mas acha que sempre é um problema do outro e não seu. Existe um estigma, a figura do Cazuza na capa da Veja. Isso precisa acabar”, pondera.
*A entrevistada usa o termo “grupo de risco” no contexto no qual se encontrava na época. Atualmente, entende-se que não há um grupo de risco específico, mas que todos estão propensos a infecção se não se protegem.
Fonte: R7