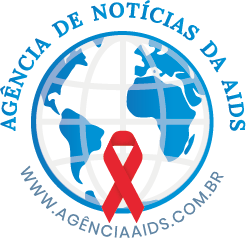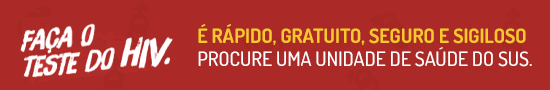Refletindo sobre um texto auto etnográfico (ou autobiográfico), ainda não publicado, que fiz sobre minha vivência como pessoa intersexo negra — que nasceu com ambiguidade genital e hormonal e submetida à sucessivas cirurgias, tratamentos, socializações, traumas, dores físicas e psicológicas — minha mãe, Gisa Oliveira, atravessou meus pensamentos enquanto eu relia tal texto, no meio da tarde em casa, ao dizer:
Refletindo sobre um texto auto etnográfico (ou autobiográfico), ainda não publicado, que fiz sobre minha vivência como pessoa intersexo negra — que nasceu com ambiguidade genital e hormonal e submetida à sucessivas cirurgias, tratamentos, socializações, traumas, dores físicas e psicológicas — minha mãe, Gisa Oliveira, atravessou meus pensamentos enquanto eu relia tal texto, no meio da tarde em casa, ao dizer:
— Pra escrever tudo o que você escreve precisa de muita calma, né, filho.
— Sim, mãe. Mas por quê? — perguntei. E para surpresa minha, ela tornou:
— Conseguir escrever no desespero que estamos é um ato de muita calma e coragem.
Calma e desespero. Será que essas duas sensações se conversam? A História nos mostra que para enfrentar o desespero, é preciso calma. Enfrentar o genocídio necessita de estratégia, unidades políticas, afetos, análise concreta e crítica da realidade e… calma.
Amenemope, filósofo e escriba egípcio, escreveu há mais de 2 mil anos a “ética da serenidade” como algo crucial para se viver em sociedade e alcançar o bem-viver. Nesta ética de vida, o pensamento racional também envolve afeto, a mente se encontra também no coração e a vida deve ser encarada como uma barca no meio do grande rio que é a vida. Muito mais que o destino, o que vai determinar a vivência é o caminho da barca, e a serenidade que temos para aproveitar essa experiência no caminho. Junto com a barca, a balança é outro elemento desse pensamento egípcio (também conhecido como kemético), sendo a grande medida do equilíbrio e do saber. Temos, então, a vida modulada pela balança e pela barca. Nessa cosmovisão, a palavra é de suma importância, pois é detentora de grande força, energia, axé.
Mas como manter a serenidade em tempos em que o rio da vida está revolto, turbulento? Que fazer em tempos que a natureza é destruída pelo fogo no pulmão do mundo, tendo um chefe neofascista a negar tal realidade?
Esse setembro tem sido difícil. Tivemos um governador sanguinário andando de helicóptero em cima de favelas, matando gente preta e pobre, uma criança Ágatha foi morta nos braços de sua mãe… Tivemos mais uma vez a pauta LGBTI+ no centro das discussões da “defesa da família”, onde um beijo entre gays é um escândalo. No momento que eu escrevo, além de pequenas decepções ou tristezas relacionadas às dificuldades de acesso ao afeto ou de traumas, me deparo com notícias cada vez mais frequentes de jovens que se suicidam (em pleno setembro amarelo, de prevenção ao suicídio), que abandonam seus tratamentos anti-HIV (ou que nunca conseguiram fazê-lo, porque tratamento é uma coisa ampla, que envolve condições sociais mínimas).
O setembro também foi de luta pela saúde, mas elas também não estão fáceis. O fascismo tem o dom de ir adentrando e corroendo nossa saúde mental, tornando o tecido social mais rasgado, mais sensível, mais afeito à violência… e até as instituições basilares da sociedade se tornam atarantadas, sem regras, quase casuísticas. Chegar aos espaços já tem sido difícil para os ativistas, o que dirá planejá-los.
Uma multidão de pautas se emergem, e nos falta a calma para, no desespero, pinçar as que de fato são emergências. O que queremos como agenda? Em plenárias com o movimento social, vi setores letrados da esquerda cuspindo seus diplomas na multidão “inculta”, que clamava por nunca ter conhecido de fato a democracia. E também vi um sectarismo em setores que a ninguém se alia, e acaba se afogando alguns metros depois. Vi artista positiva trans que foi vítima de violências colocar as agressões sofridas em público, e tudo se virar contra a vítima, enquanto o algoz passa incólume (e olha que nem sou defensor do punitivismo, hein). Mas e aí? Como fazemos para, como diz minha mãe, manter a calma no desespero? Como não se perder?
Esse mês tivemos muitas atividades do movimento social de aids. Tivemos nos dias 1 e 2 de setembro o Encontro Estadual Juventudes e HIV/Aids do CRT DST/Aids de São Paulo, em parceria com a sociedade civil e a Rede de Jovens São Paulo Positivo, a qual faço parte e estive no encontro. Tivemos o encontro da Rede Nacional de Pessoas vivendo com HIV e Aids (RNP+ Brasil), o qual pude acompanhar somente os momentos finais do segundo dia (foram três dias de atividades). Em novembro teremos o Encontro Nacional das ONGs/Aids do país. O mandato de Erica Malunguinho entrou com pedido de esclarecimentos sobre uma demissão sumária na coordenação do Programa Municipal de DST/Aids de Bragança Paulista, a pedido do movimento social. A Frente Parlamentar LGBTI+ da ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo) repudiou essa demissão de Tânia Clemente em Bragança e também de desmontes em Sorocaba… Isso me mostra que estamos em marcha, estamos lutando. Mas, estamos nos cuidando?
“Revolucionário não é mártir”, disse para mim, certa vez, um grande amigo e militante socialista, Carlos Daniel Gomes Toni. E é verdade. Resistir à necropolítica, ao pretenso fascismo do governo (que ainda tenta se concretizar cada dia mais no regime político) e fazer revolução envolve, antes de tudo, ficar vivo pra contar (e fazer) História. Essa história mesmo, com H maiúsculo. Além do trabalho árduo das organizações de evento, é necessário se pensar no preparo ideológico e filosófico das equipes ativistas, de quem se coloca para falar nas rodas de conversa, quais formatos funcionam e quais já se saturaram para uma juventude desesperada (e para ativistas também desesperados).
O que eu vi foi desespero com pouca calma no último mês. E não é só por causa do HIV ou da aids. Ela, a aids, também fica ali, bem na moita, fazendo a pêssega. Mas ela só dá bote se tiver, junto com ela, o racismo, a discriminação, a pobreza, a destruição do SUS. E é isso que está ocorrendo! Ativistas escrevem cartas e cartas a diferentes entidades e órgãos estatais, empreendem esforços hercúleos em frentes parlamentares, enfim… fazem das tripas corações. Mas já escrevem notas de repúdio com dor e descrença, adoecem… até morrem, como aconteceu com o querido José Araújo Lima, que nos deixou órfãos aqui, no movimento social.
E as juventudes nisso? Vocês acham mesmo que é fácil pra jovens cada vez mais desempregados, sem renda fixa, com helicóptero andando pra cima e pra baixo a caça de corpos negros e empobrecidos para abater com tiro de fuzil, ou com a tal da “Rota na Rua” matando jovens negros e paulistanos, estarem em marcha? Sabe qual é o “rolê” para uma ativista travesti e negra chegar numa reunião do movimento de Aids, se deslocando do extremo leste de São Paulo para a zona sul, na Santa Cruz? Ou o meu esforço para manter meu tratamento no Sistema Único de Saúde, sem acesso a uma rede integralizada de assistência à saúde mental?
O que eu vi nos encontros (todos) foi uma juventude lutadora, resistente, pronta para sonhar e revolucionar, podendo vislumbrar vida porque já temos o tratamento para o HIV, mas também sofredora com o silenciamento da aids, o silenciamento sobre sexualidade e gênero, com a falta de políticas públicas mínimas e com a falta de toque, de afeto, de escuta, massacrando suas subjetividades. Histórias e trajetórias de extrema opressão foram contadas, tensões entre gerações, ou entre sociedade civil e governo se apresentaram, e a urgência do acolhimento entre nós, ativistas, se mostrou mais que evidente. Assim como lugar de fala, o lugar de escuta também se apresentou como emergência na agenda política, porque o público e o privado se misturam muito, principalmente no capitalismo neoliberal.
Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez sempre bateram na tecla do quilombismo, do quilombo enquanto tecnologia social para se fortalecer e enfrentar o colonialismo, o racismo, a escravização… E que o quilombo rural tem um herdeiro direto: o quilombo urbano, que poderíamos reconhecer nas associações de bairro, nas comunidades afro-religiosas, nas escolas de samba, nos movimentos sociais populares, e até mesmo nas comunidades eclesiais de base (CEBs), naqueles grupos religiosos progressistas. Está na hora de levarmos a sério este conceito, também tão explorado por Clóvis Moura em sua “sociologia do negro”. Passou da hora de também sentarmos e lermos os clássicos do Trotsky e da Clara Zetkin sobre como enfrentar o fascismo e, somando essas linhas políticas do norte com toda uma tradição amefricana (parafraseando Lélia Gonzalez) do Sul global de aquilombamento, para produzir uma amálgama certeira para o enfrentamento coletivo contra à política de morte.
A agenda basicamente é a seguinte:
1) unidade ampla pela defesa dos direitos fundamentais, das liberdades democráticas (já limitadas), e a ampliação desses direitos a populações historicamente oprimidas como os povos indígenas, o povo negro, as mulheres, as LGBTI+;
2) a construção de uma frente única da classe trabalhadora que envolva todos os setores;
3) a defesa intransigente do Sistema Único de Saúde e todos os seus serviços, com especial atenção à pauta de reabertura do Departamento das IST/Aids e Hepatites Virais (DIAHV), fechado pelo governo Bolsonaro com a demissão de Adele Benzaken; e
4) a defesa de medidas para aumentar a empregabilidade e aposentar mais cedo as PVHA (Pessoas vivendo com HIV/Aids), num momento do neoliberalismo que o desemprego se torna estrutural e os direitos sociais se transformaram em “gasto público” cujo recursos devem ir direto para a boca do sistema financeiro, da dívida pública interna e dos bancos.
Temos essa agenda. Mas há um passo anterior, acredito eu. A Patrícia Hill Collins, feminista negra e socióloga estadunidense, nos deixa elucidado o “poder da auto definição”, como algo importantíssimo para se insurgir e se rebelar. Não seria possível para as mulheres negras escravizadas do século XVIII e XIX lutarem pela liberdade, ou de uma geração inteira de intelectuais negras se insurgirem ao machismo e racismo na política e na academia, sem elas próprias se auto definirem como detentoras do direito de ter direitos. Do direito de existir, e de ser livres, tendo aqui a liberdade como um conceito indivisível, coletivo, amplo, e como motor de uma luta constante e indivisível, como diz Ângela Davis.
Uma maratona longa para reverter a política de morte (ou a necropolítica, no conceito de Achille Mbembe) já se iniciou. Uma luta política contra o fascismo escancarado no Brasil se inicia agora. E nós, o que devemos fazer? A hora de fortalecer as trincheiras é agora, é já. A hora da autodefinição é agora. E isso se dá fortalecendo e protegendo todes aqueles que lutam também. E só vamos conseguir acompanhar essas longas maratonas se conquistarmos “corações e mentes”, começando pelos nossos próprios. Se nos aquilombarmos, se criarmos redes de proteção à vida de LGBTI+ e de pessoas vivendo com HIV/aids, frentes contra o genocídio da população negra e pobre, brigadas populares suprapartidárias em defesa da democracia (da pouca que ainda temos) e dos territórios, frentes amplas em defesa da população indígena… Por aí vai.
Eu penso que utilizar a interseccionalidade, a análise da realidade através de uma ótica anticapitalista, e que reconheça o tripé de exploração/opressão de raça, classe e gênero, é importantíssimo para trilharmos caminhos mais proveitosos na aids com as juventudes. Devemos seguir, com toda certeza, o conselho de Patrícia Hill Collins, de usar a interseccionalidade como um instrumento em busca da liberdade e da emancipação (do racismo, do capital, do patriarcado). Enquanto continuarmos com uma visão hegemônica de resposta à aids que foca na doença e nos processos biomédicos de forma apartada da sociedade, trabalho, política, economia e da cultura, não haverá solução possível esta epidemia global. Somente uma análise e práxis interseccionais poderão criar caminhos possíveis para o controle da aids.
* Carlos Henrique de Oliveira é escritor, mestrando em Ciências Humanas e Sociais na UFABC e assistente de políticas públicas na prefeitura de SP. Ativista do Coletivo Loka de Efavirenz, da Rede de Jovens São Paulo Positivo, da Revolta da Lâmpada e da Resistência/PSOL.
REFERÊNCIAS:
BRAGA, Ruy. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São Paulo: Boitempo: USP, Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 2012.
BRAGA, Ruy. A rebeldia do precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul global. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2017.
COLLINS, Patricia Hill. Se perdeu na tradução? Feminismo negro, interseccionalidade e política emancipatória. Revista Parágrafo, v. 5., n. 1. p. 6-17, 2017.
COLLINS, Patricia Hill (1990). O poder da autodefinição. In: Pensamento feminista negro. Tradução de Jamille Pinheiro Dias. 1 ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2019.
DAVIS, Angela. Yvone. (1981) Mulheres, raça e classe. Tradução de Heci Regina Candiani. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2016.
DAVIS, Angela Yvone. (1990) Mulheres, cultura e política. Tradução de Heci Regina Candiani. 1 ed. São Paulo: Boitempo, 2017.
GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista de Ciências Sociais Hoje, Anpocs, p. 223-244, 1984.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. 1 ed. São Paulo: N-1 edições, 2018. 80p.
NASCIMENTO, Maria Beatriz. Beatriz Nascimento, quilombola e intelectual: Possibilidade nos dias de destruição. Diáspora Africana: Editora Filhos da África, 2018. 488p.