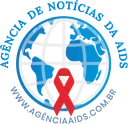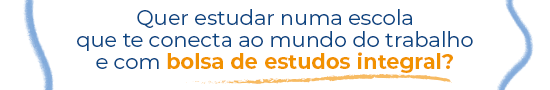Todos os anos, o Dia Mundial de Luta contra a Aids, comemorado em 1º de dezembro, oferece uma oportunidade importante para refletir sobre o progresso – ou a falta dele – na resposta global à pandemia de HIV. Criado pela primeira vez pelo Programa Global de Aids da Organização Mundial da Saúde em 1988, e simbolizado na época pela fita vermelha – escolhida para representar a importância do que em inglês foi descrito como “cutting red tape” (uma expressão idiomática para significar “reduzir a burocracia”), superando as barreiras burocráticas que foram vistas no início da epidemia para impedir o rápido progresso na luta para deter a aids. A criação do Dia Mundial de Luta contra a Aids pretendia estimular a mobilização global em resposta a pandemia, promovendo mudanças sociais e políticas necessárias para impedir a propagação da pandemia.
Todos os anos, o Dia Mundial de Luta contra a Aids, comemorado em 1º de dezembro, oferece uma oportunidade importante para refletir sobre o progresso – ou a falta dele – na resposta global à pandemia de HIV. Criado pela primeira vez pelo Programa Global de Aids da Organização Mundial da Saúde em 1988, e simbolizado na época pela fita vermelha – escolhida para representar a importância do que em inglês foi descrito como “cutting red tape” (uma expressão idiomática para significar “reduzir a burocracia”), superando as barreiras burocráticas que foram vistas no início da epidemia para impedir o rápido progresso na luta para deter a aids. A criação do Dia Mundial de Luta contra a Aids pretendia estimular a mobilização global em resposta a pandemia, promovendo mudanças sociais e políticas necessárias para impedir a propagação da pandemia.
No Brasil, aquele primeiro Dia Mundial de Luta contra a Aids em 1988 foi uma celebração especialmente otimista. Veio em um momento marcante a história do país: em meio ao processo de redemocratização após mais de duas décadas de regime autoritário militar, apenas um mês após a finalização do “constituinte” em julho e a promulgação da nova constituição democrática em outubro. O movimento ativista da aids desempenhou um papel importante na contribuição para a mobilização em torno do constituinte, liderado pelo movimento pela reforma sanitária, e estava comemorando uma grande vitória na proibição constitucional da comercialização de sangue e hemoderivados, e na declaração do direito à saúde como um direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros. Liderados por Betinho e outras figuras públicas importantes, ativistas comemoraram o primeiro Dia Mundial de Luta contra a Aids desenrolando uma enorme faixa com a palavra “solidariedade” aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.
Aquele primeiro Dia Mundial de Luta contra a Aids, proclamando, como o fez, o princípio ético e político da solidariedade como o valor primordial de sua abordagem à Aids, foi um início simbólico do que, nas duas décadas seguintes, seria uma das mobilizações mais bem-sucedidas em resposta à Aids de qualquer país do mundo. Foi uma mobilização que veria o Brasil ter sucesso na criação de uma das respostas mais eficazes da sociedade civil ao HIV e Aids, e na negociação com o Banco Mundial de uma série de empréstimos importantes para apoiar a prevenção e o controle do HIV e Aids. Registramos a eficácia da sociedade civil em pressionar o governo brasileiro a criar uma resposta oficial programática e política à epidemia brasileira baseada em princípios de direitos humanos, criando uma ampla coalizão política para aprovar a primeira política oficial do mundo em apoio ao acesso universal ao tratamento do HIV em 1996 (com base explícita na Constituição de 1988). Ao longo dos anos 2000, pressionado por ativistas, o país continuou a ter sucesso em uma luta constante com a indústria farmacêutica global, culminando finalmente em maio de 2007 em um dos verdadeiros pontos altos da história da resposta brasileira frente ao HIV e à aids, com o “licenciamento compulsório” do medicamento efavirenz, produzido pela farmacêutica norte-americana Merck.
O mecanismo conhecido como licenciamento compulsório foi legalmente permitido pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), um acordo multilateral firmado pelos países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC), com a participação ativa da diplomacia brasileira, que entrou em vigor em 01 de dezembro de 1995. A quebra do patente permitiu a substituição do medicamento patenteado por cópias não-patenteadas do remédio, fabricadas por três laboratórios da Índia – um movimento que foi estimado de economizar US$ 30 milhões apenas em 2007 devido à mudança. Mas acabou tendo uma importância ainda maior porque também possibilitou a produção do medicamento em âmbito nacional, o que fez com que o preço caísse substancialmente e possibilitou que muito mais pessoas tivessem acesso ao medicamento. No dia (durante o governo Lula 2) quando o presidente assinou o decreto que autorizou a quebra de patente, em seu discurso, Lula afirmou que “o Brasil não pode ser tratado como se fosse um país que não pudesse ser respeitado.” Ele também afirmou que o governo brasileiro estava disposto a fazer a licença compulsória de tantos remédios quantos forem necessários: “Vale para este remédio, mas para tantos outros quanto necessário”, disse Lula. “Se não tiver com os preços justos, não apenas para nós, mas para todo ser humano no planeta que está infectado, temos que tomar essa decisão. Afinal de contas, entre o nosso comércio e a nossa saúde, vamos cuidar da nossa saúde”.
Mas se no final dos anos 2000 o Brasil era inquestionavelmente considerado um líder global – e uma espécie de modelo para outros países – a próxima década seria marcada por uma série de retrocessos. Uma descrição completa (e muito menos uma análise detalhada) de todas as derrotas sofridas ao longo da década de 2010 é impossível neste pequeno texto. Mas é importante destacar pelo menos algumas questões-chave, pois temos muito a aprender com elas. Talvez o mais importante, é essencial enfatizar o quanto a resposta brasileira ao HIV e à aids – justamente por sua alta visibilidade – representava um alvo para um movimento social e político alternativo que vinha crescendo silenciosamente há algum tempo sem ser totalmente percebido: um movimento de extrema direita estava crescendo, no Brasil e em todo o mundo, e estava prestes a vir à tona no início dos anos 2010. Ao longo da década seguinte, os ataques conservadores aos programas de prevenção do HIV tornaram-se uma ocorrência regular, especialmente quando foram projetados para atingir jovens gays, transgêneros, profissionais do sexo ou outros grupos socialmente vulneráveis. O rebaixamento do status dos programas de Aids no Ministério da Saúde e a descontinuação de muitos de seus programas e campanhas fizeram parte da destruição mais amplo provocada pelo governo Bolsonaro no sistema de saúde brasileiro – fato que foi parcialmente corrigido no terceiro mandato de Lula como presidente, mas sem restabelecer completamente o prestígio anterior do programa de Aids e nem os níveis de financiamento, e sem reconstruir iniciativas que foram efetivamente destruídos por governos anteriores.
Como resultado desses desdobramentos negativos durante a década de 2010, o papel do Brasil como líder internacional na luta contra o HIV e a Aids efetivamente terminou, e seu protagonismo na proposição de novas abordagens inovadoras de prevenção, cuidado e tratamento parecia desaparecer. O Brasil tornou-se cada vez mais seguidor das orientações e políticas vindas de Genebra (sede da UNAIDS) e Washington (sede do PEPFAR do governo americano), adotou o foco na “prevenção biomédica” que havia chegado ao status quo global em resposta à pandemia, em vez de um inovador e um líder capaz de “ousar” e propor novos modelos para o resto do mundo. Cada vez mais, deixamos ao lado a ênfase pioneira que tanto a sociedade civil quanto o governo brasileiro haviam dado no passado à necessidade de “intervenções estruturais” e à importância central de combater agressivamente o estigma e a discriminação para construir as bases para respostas significativas à pandemia pareciam desaparecer.
Esses desenvolvimentos coincidiram com um declínio mais geral também em relação aos programas internacionais de HIV/aids. No início da década de 2010, as principais agências na resposta global à pandemia começaram a fazer afirmações exageradas sobre o iminente “Fim da Aids” (Unaids) e a possibilidade de “uma geração livre da aids” (PEPFAR) e foram notavelmente eficazes em convencer as Nações Unidas de que o fim da pandemia estava chegando. Mas o resultado, em vez de mobilizar o compromisso global mais firme para sustentar a resposta à aids, foi na verdade enfraquecer a determinação e, como resultado, em meados da década de 2010, a maioria dos principais países doadores começou a reduzir suas contribuições financeiras focadas no HIV e na aids. A partir de 2022 (os últimos anos para os quais há dados disponíveis), o apoio internacional para a resposta global ao HIV e à aids praticamente se estabilizou. E os recursos só conseguiram permanecer no mesmo nível porque se tornaram cada vez mais dependentes de um número cada vez menor de doadores. A assistência internacional ao desenvolvimento para HIV e aids agora (a partir de 2022) depende do programa PEPFAR dos EUA para 74% dos fundos públicos governamentais disponíveis. E o financiamento privado também se tornou cada vez mais dependente de um pequeno número de doadores, com 66% dos recursos privados provenientes da Gilead Sciences, Inc. (ligada à gigante farmacêutica) e da Fundação Bill e Melinda Gates. O fato de todas essas instituições estarem sediadas nos EUA significa que este país tem um domínio esmagador em termos de definição das abordagens que serão usadas globalmente para responder à pandemia e aumenta o risco de desastres graves caso mudanças políticas naquele país ameacem seu compromisso contínuo com a resposta global. É claro que resta saber como o novo governo Trump se posicionará, mas preocupações significativas já foram levantadas nos EUA sobre Robert F. Kennedy Jr., a escolha de Trump para liderar o Departamento de Saúde, que tem sido amplamente citado não apenas questionando a eficácia das vacinas para muitas doenças diferentes, mas também lançando dúvidas sobre o fato científico estabelecido de que a infecção pelo HIV é a causa da aids.
À luz dessas muitas dificuldades e desafios que caracterizaram a resposta ao HIV e à aids durante os últimos 10 a 15 anos, tanto no Brasil quanto internacionalmente – e o fato de que quase 20 anos se passaram desde o fim do que poderíamos descrever como a “era de ouro” na resposta pioneira do Brasil à pandemia – à medida que nos aproximamos do Dia Mundial de Luta contra a Aids, é mais importante do que nunca fazer um balanço de onde viemos e para onde vamos. E qualquer avaliação honesta do balanço a esse respeito envolve necessariamente os itens positivos e negativos que são mais marcantes (especialmente à luz dos mais de 40 anos que se passaram na história da resposta a esta terrível pandemia).
Do lado positivo da contabilidade, o que poderíamos razoavelmente considerar a maior força da resposta brasileira ao HIV e à aids – a coalizão intersetorial, envolvendo a sociedade civil, a academia, a gestão, os profissionais de saúde de todas as partes do SUS e, sobretudo, as pessoas e comunidades que vivem com HIV – permanece em grande parte intacta. É essa coalizão e os debates que ela conseguiu aprofundar e, em muitos casos, resolver ao longo do tempo, enquanto lutamos para descobrir a melhor forma de lidar com a epidemia brasileira, que tem sido a maior responsável pelos maiores sucessos do Brasil. E é quando esses debates foram ignorados, quando a tomada de decisão centralizada e de cima para baixo dominou a cena, que ocorreram os maiores reveses. Talvez o elemento positivo mais importante na resposta brasileira à Aids hoje seja que a coalizão intersetorial ainda está de pé. Apesar dos danos causados pela extrema-direita durante a última década, a eleição, há dois anos, de um governo democrático de frente ampla liderado por um presidente experiente e comprometido com a união e a reconstrução garantiu as condições políticas mínimas para podermos acreditar que esta coalizão intersetorial continuará sendo nossa maior força, pelo menos no futuro próximo.
O segundo elemento positivo fundamental que deve ser destacado é o fato de que, com a instalação do novo governo em 2023, tivemos o restabelecimento dos princípios éticos e políticos fundamentais subjacentes aos melhores aspectos da saúde coletiva brasileira, princípios consagrados na constituição de 1988 que fundamentam o SUS. O retorno a uma perspectiva que enfatiza os determinantes sociais da saúde, e a defesa contínua contra aqueles que tentam transformar o Ministério da Saúde em uma fonte de lucro comercial e, na pior das hipóteses, uma fossa de corrupção, e o exílio dos negacionistas que fizeram tudo o que podiam para prejudicar o sistema que foi implantado ao longo de décadas, criou pelo menos a possibilidade de reconstruir o que a resposta brasileira ao HIV e à Aids foi no seu melhor. Voltamos a ter gestores em quem podemos confiar e que representam o melhor da tradição que o movimento da reforma sanitária produziu.
Dito isso, também temos que reconhecer que é muito mais rápido e fácil para aqueles que desejam destruir o que foi construído do que para aqueles que querem reconstruir o que foi planejado para ter sucesso. Depois de dois anos, temos que reconhecer que, embora tenhamos feito progressos, ainda temos um longo caminho a percorrer (e o “nós” a que me refiro aqui inclui a sociedade civil e o governo). Gostaria de destacar pelo menos 5 áreas-chave que acho que devemos considerar como não adequadamente resolvidas no momento e, portanto, como prioridades pelo menos nos próximos dois anos: (1) retomar as dimensões estruturais da pandemia e, especialmente, o papel do estigma e da discriminação na perpetuação dessas dimensões; (2) reconstruir o foco em campanhas de promoção da saúde, com a “ousadia” que tem sido tradicionalmente associada à resposta brasileira ao HIV e à aids; (3) revisitar os princípios consagrados na Constituição de 1988 e investir novas energias na luta para controlar a comercialização da saúde e de produtos como sangue e outros materiais biológicos que exigem uma regulamentação muito mais eficaz do que parece estar em vigor atualmente; (4) dar atenção renovada à incorporação de inovações, especialmente em relação ao tratamento da infecção pelo HIV; e (5) estender essa preocupação com a incorporação de inovações para incluir a prevenção, especialmente quando a ganância da indústria farmacêutica internacional é tão descaradamente exibida como foi no passado muito recente.
A primeira dessas áreas é uma das mais fáceis: retomar a ênfase nos determinantes estruturais da pandemia e vinculá-los novamente à agenda social e política mais ampla do Brasil (mais recentemente exibida na liderança do Brasil na reunião do G20). Pode parecer uma diferença sutil, mas embora o conceito de determinantes sociais da saúde que está sendo usado atualmente para orientar o trabalho no Ministério da Saúde seja uma estrutura analítica útil, ele não vai tão longe quanto o necessário para destacar a estrutura – tanto a economia política quanto as políticas que operam para auxiliar e estimular a pandemia. Muitos dos chamados determinantes sociais da saúde são, na verdade, determinantes políticos e requerem ação política para criar mudanças. Poucos países reconheceram isso tão claramente quanto o Brasil, que no final da década de 1990 destacou a pobreza como um dos principais determinantes da epidemia de aids na América Latina (e consagrou esse entendimento no segundo projeto de empréstimo do Banco Mundial) antes de quase qualquer outro lugar ter levado isso a sério na concepção de programas de HIV/Aids. O estigma e a discriminação, mecanismos fundamentais da produção e reprodução das desigualdades, também podem ser entendidos como estruturais, e não apenas atitudinais – e podem ser abordados estruturalmente, como têm sido no Brasil em relação ao racismo e, por extensão, à homofobia. Enfatizar esses determinantes estruturais com força poderia fornecer uma conexão muito mais eficaz com a ênfase da atual administração no combate à fome e à pobreza, ajudando a deixar claro como todas as questões relacionadas à saúde são permeadas por esses determinantes político-econômicos.
A segunda área que merece destaque é a necessidade de retomar a longa tradição brasileira de desenvolver campanhas de promoção da saúde com o tipo de “ousadia” que caracterizou as clássicas campanhas de prevenção da Aids (tanto pelo governo quanto pela sociedade civil nas décadas de 1990 e 2000). Nos últimos 15 anos, fugimos de qualquer coisa remotamente controversa (ou mesmo emocionante e ligeiramente transgressora), com medo de provocar a ira da direita radical. Embora eu entenda os motivos de tal preocupação, também quero enfatizar que não só no Brasil, mas em todo o mundo, a prevenção mais eficaz do HIV sempre “arrepiou” e perturbou sensibilidades conservadoras. O Brasil sabe como ser líder em ousadia, que é de fato uma parte central da cultura popular brasileira. Precisamos deixar brilhar a ousadia da criatividade brasileira e estar prontos para nos mobilizar socialmente e politicamente para defender campanhas que recuperem essa ousadia e a usem como fonte de inspiração para reinventar o que se tornou uma abordagem morna e sem inspiração para a prevenção do HIV.
A terceira área parece-me particularmente urgente e, mais uma vez, requer a colaboração ativa do governo e da sociedade civil também. Como já mencionado, um dos grandes avanços da Constituição de 1988 foi a proibição da comercialização de produtos relacionados à saúde, como sangue e hemoderivados. Quando a Constituição foi adotada, inicialmente foi uma batalha para implementar os mecanismos regulatórios necessários (por exemplo, para poder identificar e controlar bancos de sangue clandestinos). Depois de anos de trabalho árduo nesse sentido, hoje vimos que o rigor regulatório é novamente um grande desafio, em parte porque o Congresso sempre parece faminto por aprovar legislação que possa facilitar a obtenção de ganhos comerciais (como no PEC 10/2022, o PEC do Plasma) e em parte por causa de escândalos recentes (como infecção causada recentemente por órgãos transplantados no Rio de Janeiro). A indignação causada por tais escândalos é ainda mais grave por causa dos milhões de Reais em contratos emitidos sem licitação a um laboratório privado cujos proprietários e funcionários parecem ter usado seus contatos políticos para garantir o lucro de produtos biológicos inadequadamente regulamentados. Tanto o governo quanto os vigilantes da sociedade civil precisam resolver esses problemas, em vez de olhar na outra direção ou deixar de torná-los uma prioridade clara.
Uma quarta área-chave que merece atenção é o que pode ser descrito como a incorporação de inovação – uma frase que pode parecer um tanto ambígua, mas que aqui se refere à questão complexa, mas extremamente importante, de como novos desenvolvimentos em relação ao tratamento do HIV (ou tratamento para outras condições relacionadas) são aprovados para uso no Brasil e incorporados à gama de medicamentos que o programa brasileiro de aids disponibiliza para o tratamento do HIV por meio do SUS. Isso é essencial para garantir que as pessoas que recebem tratamento para o HIV têm acesso aos medicamentos mais modernos e eficazes disponíveis, em vez de gerações mais velhas de tratamento, que geralmente são menos eficazes e envolvem mais efeitos colaterais negativos. Monitorar a incorporação de inovações também envolve estar atento à forma como os custos desses medicamentos são negociados com a indústria farmacêutica, a fim de garantir que o Brasil esteja pagando um preço justo em relação ao que outros países pagam (em vez de ser explorado por meio de práticas comerciais desleais). Tudo isso é essencial, especialmente em tempos de “vacas magras”, quando os orçamentos dos programas estão sendo cortados em todas as frentes e precisamos constantemente fazer mais com menos. Embora os medicamentos específicos em questão mudem com o tempo, apenas para dar alguns exemplos que são preocupantes atualmente, sabemos que o Ministério da Saúde quer incorporar o cabotegravir quanto o fostemsavir, mas o cronograma para quando isso acontecerá não é claro. Também sabemos que o Brasil está pagando mais pelo dolutegravir do que muitos outros países em desenvolvimento, mas não sabemos quais negociações estão ocorrendo para tentar corrigir essa situação. Essas questões são complexas, mas são extremamente importantes. E eles exigem a construção de coalizões políticas para serem bem-sucedidos. Durante a “era de ouro”, por exemplo, o corpo diplomático do Itamaraty foi um parceiro-chave que ajudou a enfrentar questões comerciais no âmbito da Organização Mundial do Comércio. E a sociedade civil, como as muitas organizações que são membros do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI), precisa continuar a desempenhar um papel fundamental de vigilância, apoiando a necessidade de ações eficazes.
Por fim, em uma quinta área-chave, especialmente em tempos de prevenção biomédica, seria importante lembrar que a prevenção biomédica também requer ação política para que seja uma possibilidade viável, e estender a ênfase política na incorporação de inovações para abordar também essa incorporação de inovações no campo da prevenção
Como um exemplo importante, o Brasil fez avanços significativos nos últimos anos para expandir o acesso à PrEP. Mas a ciência da PrEP, com o desenvolvimento de modalidades novas e mais eficazes (como a PrEP injetável e de ação prolongada), avançou mais rapidamente do que a sua utilização no sistema público de saúde. As desigualdades e injustiças envolvidas nisso tornaram-se especialmente visíveis recentemente com o sucesso do lenacapavir, que estudos mostraram fornecer quase 100% de proteção por até seis meses com uma única injeção – resultados que têm sido vistos como um verdadeiro “divisor de águas” na história da prevenção do HIV. No entanto, quando a Gilead, fabricante do lenacapavir, anunciou recentemente que havia assinado acordos de licenciamento voluntário com seis fabricantes para permitir a produção do medicamento para uso em 120 países de baixa e média renda – eles deixaram quase todos os países latino-americanos (incluindo países como Brasil e Peru, que têm sido locais de ensaios clínicos relacionados à PrEP) fora dos acordos de licenciamento voluntário – apesar do aumento de infecções que acontece atualmente em toda a região. Há uma necessidade urgente para o Brasil fazer causa comum com outros países que foram excluídos – e até mesmo com aliados históricos como Índia e África do Sul, que foram incluídos nos acordos de licenciamento voluntário, mas que podem estar dispostos a pressionar a Gilead a rever sua abordagem injusta. Mais uma vez, a sociedade civil e outros setores do governo precisam estar envolvidos na luta vigorosa contra essas relações comerciais exploradoras.
Nenhuma dessas cinco áreas identificadas aqui está fora do reino da possibilidade – e todas elas poderiam ser razoavelmente alcançadas durante os próximos dois anos do governo Lula 3. Eles devem ser pensados como “janelas de oportunidade”, em parte porque todos são “factíveis” com Lula como presidente no tempo disponível em seu mandato atual. Mas também são janelas de oportunidade justamente porque todas elas nos oferecem a possibilidade de recuperar, na atualidade, a ideia de “solidariedade”. A solidariedade foi o princípio ético e político fundamental que Betinho e outros articularam naquele primeiro Dia Mundial da AIDS em 1988 como o ponto de partida necessário para a resposta brasileira ao HIV e à Aids. E foi a solidariedade que o presidente Lula reiterou, em outras palavras, em 2007, quando declarou o licenciamento compulsório do efavirenz conforme citado em cima: “Se não tiver com os preços justos, não apenas para nós, mas para todo ser humano no planeta que está infectado, temos que tomar essa decisão. Afinal de contas, entre o nosso comércio e a nossa saúde, vamos cuidar da nossa saúde”. A solidariedade tem sido escassa nos últimos tempos, durante os reveses e retrocessos políticos que vivemos. Mas ainda é o princípio-chave ao qual precisamos nos apegar se quisermos recriar uma resposta significativa ao HIV e à aids no Brasil no futuro.
* Richard Parker, diretor-presidente da ABIA (Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids), Professor titular emérito da Columbia University, e Editor-chefe da revista cintífica Global Public Health
Apoios