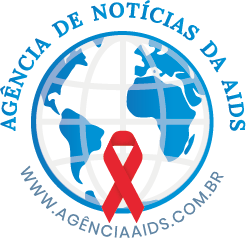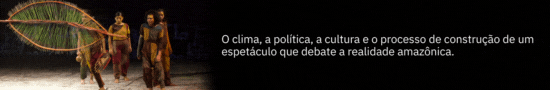Quinze anos atrás, Giovana* concluía o curso de Turismo em uma renomada universidade particular de Campinas (SP) e namorava o administrador financeiro Pedro* quando se descobriu com HIV. Depois da notícia, ele também foi diagnosticado soropositivo – não sabem quem se infectou primeiro. “Briguei comigo porque era instruída e me perguntava se o vírus limitaria a minha felicidade”, lembra. Embora não planejasse engravidar na época, Giovana saiu aos prantos de uma consulta com o infectologista que mencionou sobre o risco de transmissão do HIV da mãe para o bebê na gestação, no parto ou na amamentação, e decretou: “Ter filhos, jamais. Adote”. O que o casal adotou, nesses 16 anos juntos, foi a terapia antirretroviral ou “coquetel” de medicações. Já os três filhos (de 2, 5 e 8 anos) foram não apenas gestados por Giovana, 44, como planejados e concebidos naturalmente. Todos nasceram saudáveis e livres do vírus causador da aids.
Cerca de 1,4 milhão de mulheres que vivem com HIV engravidam por ano no mundo, de acordo com a Unaids, programa das Nações Unidas de combate à doença. No Brasil, o número de gestantes com o vírus aumentou 37% entre 2008 e 2018, segundo o último Boletim Epidemiológico de HIV/Aids do Ministério da Saúde.
“Não é uma má notícia”, afirma o infectologista Rico Vasconcelos, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. “Graças à melhora das políticas públicas em saúde, estamos conseguindo encontrar e tratar essas gestantes para eliminar a transmissão vertical do vírus.” Ele aponta para a redução de quase metade dos casos de HIV em crianças menores de 5 anos no mesmo período.
Desde 2010, o teste de HIV passou a ser obrigatório durante o acompanhamento pré-natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – todas as grávidas devem fazer o exame na primeira consulta e no último trimestre. Com isso, muitas mulheres são surpreendidas pelo diagnóstico. A vendedora Daiana*, que vive em Bagé (RS), foi uma delas. Em 2015, quando assumiu sozinha a gravidez fruto de um breve relacionamento, procurou atendimento em uma unidade de saúde. “Lembro que a equipe toda me fechou em uma sala [para dar o resultado] e eu não queria aceitar”, diz, hoje, aos 35. “Pensei em me jogar na frente de um caminhão para acabar com tudo de uma vez.” Como desconhecia a diferença entre ser soropositivo e ter Aids (Saiba mais no quadro “Ter HIV não significa ter Aids”), ela imaginou que não teria condições de ver seu bebê crescer. Nas redes sociais, Daiana posa com um chimarrão e a filha, Clara*, 4 anos.
Caminho com volta
O estigma da “doença sem cura” que fez ídolos como Cazuza e Renato Russo definharem publicamente nos anos 1990 parece ter permanecido no inconsciente coletivo – ou, pelo menos, das gerações que assistiram ao auge da epidemia. Naquela época, os pacientes soropositivos tomavam mais de uma dezena de comprimidos por dia, sofriam pelos efeitos colaterais dessas medicações, adoeciam com frequência e tinham expectativa de vida muito menor. Ainda mais complicadas eram as consequências do vírus no organismo da mulher grávida, que já tem uma baixa de defesa pela convivência com o embrião. “ Apesar de todos os esforços, o desfecho de muitas histórias foi o óbito materno e fetal”, afirma a obstetra Regina Rocco, professora do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (RJ), referência nacional no atendimento de gestantes com HIV.
Com os avanços da ciência e as modernas terapias antirretrovirais (TARV), é possível bloquear a replicação do HIV e torná-lo indetectável no corpo da pessoa infectada. Sob controle, o vírus não evolui para a Aids, síndrome que ataca o sistema imunológico e interfere na capacidade de combater doenças oportunistas como tuberculose, pneumonia, meningite e toxoplasmose. Em outras palavras, atualmente, conviver com o HIV requer cuidados semelhantes aos adotados por pacientes crônicos – a exemplo dos diabéticos. Não à toa, os dados do Ministério da Saúde revelam uma significativa mudança de comportamento entre 2008 e 2018: o índice de mulheres que engravidam sabendo que têm o vírus (61%) superou a taxa daquelas que são diagnosticadas no pré-natal (31%). “Após mais de 30 anos de epidemia, finalmente estamos conseguindo detectar melhor os casos de HIV, com diagnósticos prévios a futuras gestações, assim como empoderar as mulheres soropositivas quanto à segurança em gerar uma criança com risco mínimo de transmissão vertical do HIV caso o acompanhamento seja adequado”, afirma a infectologista Manoella Alves, do Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi (RN).
Com acompanhamento médico adequado e adesão à TARV, segundo dados do Ministério da Saúde, a chance de a mãe infectar o bebê cai de 20% para cerca de 1%. “Se a gestante soropositiva fizer o tratamento antirretroviral e tiver um pré-natal de qualidade, os riscos são os mesmos de uma gestante que não tem o HIV, ou seja, ela poderia estar exposta a outros tipos de
problemas não relacionados ao vírus, como gerar um bebê com uma má-formação, por exemplo”, afirma a ginecologista especializada em doenças infectocontagiosas Maria Luiza Bezerra Menezes, membro da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).
Tratamentos em discussão
Mesmo com essa estatística, a técnica de enfermagem Flávia*, 27, está insegura em seu oitavo mês de gravidez. Moradora de Itapevi (SP), ela já é mãe de um menino de 11 anos e uma menina, de 3, do casamento anterior. Em 2017, Flávia* se contaminou durante um movimentado plantão em um hospital público. “Na pressa para descartar material, rasguei meu dedo numa agulha cheia de sangue”, diz ela, que passou por consulta e foi tranquilizada pela médica. Um mês depois, desconfiou dos sintomas de uma “forte gripe” e fez o teste HIV. Positivo.
Algumas dessas medicações oferecem risco de aborto, má-formações, alterações funcionais ou distúrbios neurológicos no feto. Um estudo norte-americano com mais de 1,5 mil grávidas com HIV, publicado em dezembro passado na revista médica Jama Network Open, levantou que mais de 30% receberam antirretrovirais não recomendados durante a gravidez (inseguros para o feto).
Os cientistas têm, inclusive, explorado alternativas aos antirretrovirais – que são caros e com efeitos colaterais incertos a longo prazo. Por exemplo, uma pesquisa divulgada no final de 2019 pela revista AIDS concluiu que a exposição à terapia antirretroviral ainda no útero pode provocar danos ao coração dos bebês não infectados pelo HIV (disfunção ventricular esquerda). Entre as opções investigadas nos laboratórios mundo afora, a mais promissora seriam anticorpos neutralizantes que podem reeducar células para atuar especificamente contra o vírus. Hoje, a OMS indica o uso do dolutegravir (DTG) como principal tratamento para grávidas e mulheres com potencial de engravidar.
Rumo ao parto
Na 34ª semana de gestação, o último exame de carga viral define a via de parto. Se a mulher estiver indetectável, admite-se o parto vaginal: o sangue e as secreções maternas não oferecem risco de contaminação para o bebê. Em geral, as gestantes com HIV são encaminhadas para a cesárea eletiva – antes de entrar em trabalho de parto. Isso porque as contrações aumentam a troca sanguínea entre a placenta e o bebê, o que facilitaria a circulação do vírus. Também como profilaxia, as gestantes recebem o antirretroviral AZT injetável horas antes da cirurgia. “O obstetra deve se esforçar ao máximo para fazer uma incisão delicada e tirar o feto ainda empelicado (envolto pela bolsa amniótica)”, afirma a ginecologista Maria Luiza Bezerra Menezes. “Ou, pelo menos, proteger o nariz e a boca do bebê para evitar que ingira secreções maternas infectadas.”
Ainda na sala de parto, a criança recebe a primeira dose do xarope antirretroviral que tomará por seis semanas, por via oral. Outra medida fundamental para garantir que a transmissão vertical do vírus não aconteça é impedir a amamentação. Giovana*, a mãe de três do início da reportagem, atribui a isso o baby blues [sentimento de profunda tristeza, medo e insegurança] que viveu após o nascimento do primeiro filho. Para escapar da pressão de ser questionada o tempo todo sobre o motivo de não dar o peito, ela usou a desculpa de que não produzia leite por causa de um remédio para tireoide.
“Essas mulheres passam a vida ouvindo que amamentar é o mais saudável para o bebê e, agora que são mães, correm o risco de infectá-los dessa forma”, afirma a psicóloga Rosângela Kallil, que atende gestantes soropositivas há 18 anos no Hospital Universitário Gaffrée em Guinle. “Trabalhamos a ideia de que, também por amor, ela não pode amamentar.” Talvez possam num futuro próximo, acredita o infectologista Rico Vasconcelos. Ele cita pesquisas em andamento que oferecem medicações antirretrovirais (profilaxia pré-ex- posição) a bebês não infectados para que sejam amamentados sem risco de contrair o vírus da mãe.
Consequências para o bebê
Nas crianças infectadas que não recebem tratamento logo nos primeiros meses de vida, o HIV provoca danos cerebrais progressivos que impedem ou atrasam o desenvolvimento (como locomoção e fala), além de episódios repetidos de infecções bacterianas, pneumonia, insuficiência cardíaca etc.
Boa parte das angústias da mãe soropositiva se deve à espera de um ano e meio para ter certeza de que não transmitiu o vírus ao filho. Antes desse prazo, o exame de sorologia poderia apontar um falso positivo. “Os anticorpos que a mãe passa para o bebê pelo cordão umbilical podem levar até 18 meses para serem degradados no organismo dele”, afirma o infectologista Rico Vasconcelos. Porém, é possível fazer testes de carga viral no bebê. “Dois resultados indetectáveis significam que ele não foi infectado, mas a mãe só costuma relaxar quando a sorologia vem negativa.”
Daiana*, a mãe solo gaúcha, comemorou o resultado do exame da filha nos grupos virtuais de pessoas que convivem com o HIV. Durante a gestação, nas noites de choro e orações, o apoio veio das amizades que fez pela internet. Ela nunca revelou a ninguém de sua família “rígida e conservadora” sobre o vírus. A psicóloga Rosângela Kallil confirma que muitas pacientes do ambulatório só contam sobre a sorologia para a equipe médica. “Estamos lidando com grandes tabus da sociedade: a sexualidade e a morte. Elas têm medo de ser taxadas de promíscuas (sendo que algumas adquirem o vírus do marido), da rejeição e de não conseguir cuidar do filho…”, diz. Mais do que um problema de saúde, trata-se de uma questão social: não encontrar espaços de acolhimento, além dos serviços especializados em que realizam o acompanhamento pré-natal. Essas mulheres sabem que a sociedade confere uma espécie de “aura sagrada” à grávida e que o preconceito persiste em relação aos soropositivos – tidos como “devassos”.
A fisioterapeuta Lívia*, 43, é soropositiva há mais de 20 anos e abriu o jogo com João* assim que se envolveram. Embora tenha se assustado no início, se tornou seu segundo marido. “Quando consideramos ter um filho, ele [que não tem HIV] quis entender melhor os riscos envolvidos. Meu infectologista liberou tentarmos naturalmente”, diz Lívia*. Como já estava indetectável, ela não transmitiria o vírus na relação sexual desprotegida. Tentaram durante cinco anos antes de recorrer à fertilização in vitro no Grupo Huntington (SP) – por causa da idade de Lívia* e não do HIV. De acordo com a diretora médica Cláudia Gomes Padilha, até uma década atrás, a procura de casais sorodiscordantes (quando um parceiro tem o vírus e o outro, não) por técnicas de reprodução assistida (como a lavagem do sêmen, processo que separa os espermatozoides do líquido seminal) estava muito mais ligada ao medo de transmissão do vírus entre os parceiros.
Lívia* e João* realizaram o sonho de ter um filho. Artur* nasceu em uma cesárea eletiva – embora a obstetra tivesse garantido a segurança do parto normal no caso dela. “Quando botaram meu bebê perto de mim, fiquei aliviada porque tinha pouquíssimo sangue nele”, diz. Hoje com 1 ano, Artur* é uma criança livre do HIV e já frequenta a escola em tempo integral. “O pai acha que seria legal ele saber da história um dia”, diz Lívia com a voz embargada. A repórter pergunta o motivo da emoção. “Orgulho de conseguir dar à luz e ele ser saudável. É… acho que ele mere-ce saber.”
Giovana* e o marido Pedro*, do início da reportagem, pretendem contar tudo aos três filhos, provavelmente quando forem adolescentes. Por ora, ela afirma que só lembra do HIV quando toma os remédios: “De resto, sou feliz com um parceiro de vida e me sinto exercendo plenamente a maternidade – com todos os ônus e bônus.”
Graças aos avanços da ciência e às políticas públicas efetivas, o vírus deixou de ser aquela sentença de morte de décadas atrás. Mais do que isso, hoje o HIV não inviabiliza o sonho da gravidez ou de ter filhos saudáveis – com acompanhamento e tratamento adequados, gratuitos pelo SUS, a mãe tem 99% de chance de não contaminar seu bebê. Agora falta transmitir informação e respeito.
Fonte: Crescer