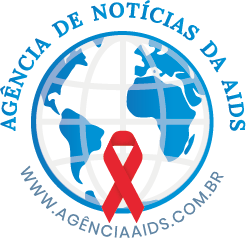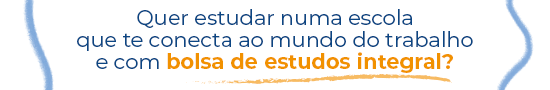“Nasci em Itabira (MG), mas saí de lá e fui viver em Belo Horizonte aos 14 anos, quando minha mãe me colocou para fora de casa por conta da identidade de gênero. Vivi em abrigos até os 18 — quando atingi a maioridade, passei um tempo morando na rua.
“Nasci em Itabira (MG), mas saí de lá e fui viver em Belo Horizonte aos 14 anos, quando minha mãe me colocou para fora de casa por conta da identidade de gênero. Vivi em abrigos até os 18 — quando atingi a maioridade, passei um tempo morando na rua.
Quando você está na rua, você não tem onde guardar suas coisas, não tem endereço, é mais difícil procurar emprego, então não tem como se organizar para mudar de vida. Consegui vaga em uma república para pessoas em situação de rua e ali fui me aproximando de outras pessoas LGBTQIA+ [lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexo, asexuais e outras sexualidades ou identidades de gênero].
Automaticamente, comecei a entrar em movimentos sociais e fui convidada para trabalhar no BH De Mãos Dadas Contra a Aids [programa da prefeitura que existe desde 2000]. Através do mercado de trabalho, consegui sair da república e ter minha casa pela primeira vez.
Comecei a atuar na prevenção de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), principalmente com mulheres trans que estavam na prostituição ou em cabines e cinemas pornô, distribuindo preservativos e gel lubrificante, entre outras coisas.
Em contato com essas pessoas, percebi um consumo de drogas muito intenso e entendi que não dá para separar a prevenção de ISTs e a prevenção ao uso de drogas — foi aí que eu trouxe a questão para dentro do trabalho e me sugeriram escrever um projeto para uma conferência internacional de redução de danos que aconteceu naquele ano, 2018, no Porto, em Portugal.
Quando voltei, fui convidada para trabalhar no CAPS AD [Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas], mas os projetos sociais começaram a sofrer ataques depois da eleição da pessoa que está aí sentada na cadeira presidencial [Bolsonaro], e eu logo perdi o emprego.
Assim, vim para São Paulo por insistência de uma amiga que me convenceu que aqui haveria mais possibilidades na minha área. Bati na porta do Centro de Convivência É de Lei, uma organização da sociedade civil, onde acabei sendo contratada como agente de redução de danos. Hoje, coordeno três núcleos, todos ligados ao combate ao uso de drogas.
“Foi o encontro perfeito”
Um mês antes do início da pandemia, conheci o Digg Franco, e ele me falou da Casa Chama, um projeto que ele criou e que estava promovendo festivais de cultura trans. Ele me contou que tinha vontade de atuar mais fortemente no amparo a questões como moradia, alimentação, especialmente com a chegada da covid ao Brasil.
Foi um encontro perfeito, porque eu sempre trabalhei no acolhimento a pessoas trans e me encantei pelo fato da Casa Chama ser um lugar construído por pessoas trans para outras pessoas trans — o que faz todo sentido, porque pessoas cisgênero, por mais preparadas que estejam, não entendem a realidade de ser trans no Brasil.
Hoje, aqui na Casa Chama, temos 300 assistidos fixos. No ano passado, distribuímos mais de 3 mil cestas dignas — chamamos assim porque vai além dos itens básicos, tem carne, ovo, pão, legumes mais variados. Conseguimos dar auxílio-moradia para algumas pessoas também, tudo custeado com dinheiro de doações.
Damos suporte a famílias com crianças trans, encaminhamos as pessoas que precisam para uma UBS (Unidade Básica de Saúde) que sabemos que tem um atendimento médico mais humanizado, digno e respeitoso com pessoas trans, ajudamos a retificar os documentos e temos parceria com advogados que se dispõem a trabalhar pro-bono e profissionais de saúde mental, como psicanalistas, psicólogos e psiquiatras, que fazem atendimentos individuais e terapias em grupo.
Eu e o Digg, que é um homem trans, temos realidades muito próximas das pessoas que a gente atende e isso faz com que a gente consiga construir um acolhimento mais efetivo, diferente do que está proposto pelo poder público.
Quando uma pessoa trans vai a uma UBS, já enfrenta desrespeito na hora do cadastro, porque os funcionários não respeitam o nome social. Por isso, outro trabalho que a Casa Chama faz é ajudar na capacitação de profissionais de saúde, para que a pessoa trans que busca o atendimento público seja respeitada da porta de entrada até a consulta e os exames.
Quando conhecem nosso trabalho, algumas pessoas dizem: ‘Vocês precisam focar uma coisa só’. Mas quando se trata de pessoas trans, as ausências ao longo da vida são tantas — de políticas públicas, direitos, acolhimento, afeto — que a gente precisa olhar para o todo.
Tem gente que chega aqui subnutrida, precisando de cuidados de saúde, de ajuda para retificar o nome, às vezes acompanhamento jurídico para ajudar a se defender depois de alguma agressão, enfim.
“Um mundo em que o afeto seja para todos”
As vivências que um corpo trans tem na sociedade são totalmente diferentes e isso fica muito explícito nos números: o Brasil é o país que mais mata pessoas T no mundo. E mata de pelo menos duas formas: 90% das mulheres trans está fora do mercado formal de trabalho [o dado é da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil], muitas delas se prostituem e são ainda mais expostas a violências; enquanto isso, 86% dos homens trans já tentaram suicídio [segundo pesquisa publicada em 2020 pelo “Jornal Brasileiro de Psiquiatria”]. Tudo isso nos torna vulneráveis.
Eu não sou uma mulher vulnerável, não me considero assim, mas sou vulnerabilizada por um sistema que nos exclui.
No ano passado, conheci o Aiace, um homem trans preto, que já tem um filho de uma outra relação, o Malcolm, de 4 anos. Nós formamos uma família, e essa é uma das coisas mais potentes que já aconteceu na minha vida. No mês passado fizemos um bolinho de aniversário para o Malcolm e foi muito emocionante, porque eu fui excluída desse lugar de família muito cedo, passei metade da minha vida sem saber o que é ver todo mundo reunido, feliz, para celebrar a vida.
É essa família que me dá forças. Juntos, estamos conquistando os lugares que nos foram tomados pela transfobia.
As violências que eu vivi — sair de casa aos 14 anos, ser evadida da escola, morar na rua — me ajudam a levantar todos os dias e tentar mudar um pouco a sociedade para o meu filho, para que ele não passe por nada disso e viva num mundo melhor. Um mundo em que mulheres e homens ocupem os mesmos lugares, em que não exista diferença por conta da cor da pele e em que mulheres trans possam ir à padaria de manhã sem medo de serem assassinadas. Um mundo em que o afeto seja para todos.”
* Matuzza Sankofa é ativista LGBTQIA+ e diretora da ONG Casa Chama, em São Paulo.
Fonte: Universa (UOL)