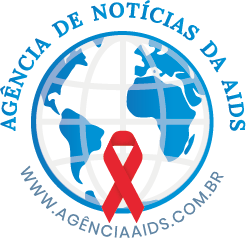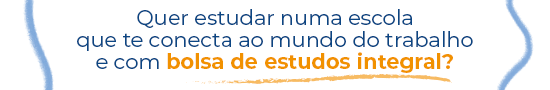Companheiro Néstor,
Companheiro Néstor,
Hoje passei o dia pensando em você, relendo suas poesias, folheando seus textos em prosa, seus artigos científicos, seus livros. Há exatos 30 anos você nos deixou e se juntou à multidão de pessoas que a aids nos tirou o convívio. A mesma multidão que, passados 40 anos desde o início da pandemia de aids, não para de aumentar mundo afora. Recentemente estive em Buenos Aires, a capital do seu país. Embora a ditadura que te fez emigrar da Argentina para o Brasil nos anos 1970 só exista agora como parte de uma memória social cujo desafio é se fazer lembrada, há na América Latina um novo assombro autoritário e golpista. Naqueles dias na capital portenha senti o arrepio fino do que se espreitava para um futuro próximo.
Néstor, eu adoraria tê-lo conhecido, mas sinto que a cada leitura dos teus escritos vou forjando um tipo de intimidade entre nós que decorre não só do vírus que percorre o meu sangue, mas da companhia que encontro nas tuas reflexões sobre aids no Brasil. Tive a alegria de conhecer o teu livro “O que é Aids” publicado na Coleção Primeiros Passos em 1987. Os apontamentos que fazes neste texto sobre a aids como um dispositivo inundou várias outras reflexões e escritos sociais sobre o tema. Para mim, como alguém que vive com e pesquisa sobre HIV/aids, este livro se tornou um daqueles textos que lemos e relemos, pois a cada nova leitura adensamos o entendimento, conectamos um passado com um presente, nos assustamos com o preço que continua a ser pago por ousarmos produzir outros regimes de vida, de desejo, de prazer! Lembro-me sempre do modo como colocas o pânico moral produzido pelo estigma da aids como uma tentativa de instituir uma política sexual, do corpo, do desejo, de vida que se impõe como uma cortina de fumaça para outros problemas humanos, como a fome, a poluição, a guerra. A aids segue sendo uma tragédia humana, uma metáfora, como nos ensinou Susan Sontag.
Escrevo esta carta numa tentativa de compartilhar contigo um pouco daquilo que tenho experimentado, como antropólogo, ao longo de uma pesquisa com outras pessoas que vivem com HIV/aids num contexto político muito específico: o governo Bolsonaro. Eu escrevo para lembrar, para não esquecer, para não morrer! Nos anos que se seguiram à tua morte, a resposta brasileira à epidemia de HIV/aids se tornou referência mundial, uma vez que o país se destacou pela atuação estatal integrada às organizações da sociedade civil, pelo apoio de instituições estrangeiras, pela universalidade da política de aids que só foi possível no recém criado Sistema Único de Saúde (SUS), pela construção da epidemia como um problema político (e não meramente como uma infecção sexualmente transmissível) e pela urgência da solidariedade. O final dos anos 1990 e a década de 2000 ficaram em nossas lembranças como tempos de vida em contraste aos rituais de agonia espetacularizados no início da epidemia.
Mas, como sabes, o Brasil não é para iniciantes! Na virada dos anos 2000 para os 2010 vimos sair do armário velhos fantasmas conservadores que investiram fortemente contra uma agenda de reivindicações pelos direitos humanos das pessoas sexo-gênero diversas. Como já bem havias analisado em teu clássico livro: as significações sobre a Aids alçou o homossexual (hoje usamos a sigla LGBTQIAPN+) à condição de inimigo. Sob a alcunha da “ideologia de gênero” articulou-se no Congresso Nacional, nas demais esferas de governo, nas ruas, nas igrejas, nas casas, nas escolas uma cena reacionária que parecia querer nos arrancar do século XXI. Como foi no passado, a horda conservadora e reacionária mirou a diversidade de gênero e de sexualidade, a aids, as pessoas que vivem com HIV/aids e as políticas públicas. Ainda nos anos 2010, a vida pública brasileira foi sacudida, uma vez mais, pelos estratagemas de um golpe que destituiu em 2016 a primeira mulher eleita Presidenta da República. Dali em diante, companheiro Néstor, já deves imaginar a esteira de ataques à democracia, aos direitos humanos e às possibilidades de construir outros regimes de vida! Resistimos!
Como bem nos lembraram Fernando Seffner e Richard Parker, assistimos nesses últimos anos ao desperdício da experiência acumulada em torno da resposta brasileira à epidemia de aids. O SUS, sem o qual não poderíamos ter pautado a responsabilidade estatal na garantia do direito à saúde das pessoas vivendo com HIV/aids, tem sido remendado em seus princípios e diretrizes por agendas neoliberais que buscam colocar em cena uma lógica individualista e individualizante que responsabiliza a pessoa diante dos infortúnios da vida. Por isso, companheiro Néstor, as lutas encampadas pelo Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, as quais conhecestes ao chegar ao Brasil no final da década de 1970, seguem vívidas e necessárias, embora por vezes num caminhar claudicante. Lembro-me do artigo que você publicou em 1985 na Revista Lua Nova no qual destacavas que, naquele momento, as pessoas doentes de aids não puderam se beneficiar do segredo sobre seus diagnósticos, visto que a assepsia da cena médica se estendeu às mídias como um espetáculo de horror. No entanto, a agenda neoliberal nas políticas de saúde soube se beneficiar num ritmo alucinado dos avanços na política e no cuidado à saúde das pessoas vivendo com HIV/aids centrados no acesso universal à terapia antirretroviral pelo SUS e na consequente possibilidade de viver (e já não adoecer e morrer) com HIV como uma condição crônica. Ao fazer isso, a doença feita espetáculo nas décadas iniciais da epidemia cedeu lugar à uma doença segredo que deve ser vivida na intimidade dos corpos; uma condição que permanece sem cura, mas que pode ser controlada pelo saber médico.
A pesquisa sobre a qual quero te falar, Néstor, está interessada justamente naquilo que se guarda, que se silencia e que costuma ser confidenciada de forma altamente ritualizada. Uma pesquisa conduzida num cenário específico. Na esteira da aventura golpista que passou a orquestrar a vida política brasileira, essa virada subjetiva afiançada pelo Estado, pela ciência e pelo mercado atou a aids num passado cada vez mais distante e superado pela lógica do progresso linear da ciência e da tecnologia modernas. O que pude observar durante a pesquisa é que as pessoas com quem dialoguei, em sua maioria diagnosticadas já na era pós-coquetel, construíram-se como pessoas soropositivas apartando o passado infiltrado pela aids letal do presente tecido na cronificação da infecção pelo HIV. Sai a aids, assinala-se o HIV. Este jogo de cadeiras tem levado até os organismos multilaterais, como o Unaids, e estados-nação à evitação do uso da palavra aids, já que esta tem data prevista para erradicação: 2030. No Brasil que viu um governo de extrema direita ascender ao poder em 2019, as primeiras ações estatais relativas à política de aids caíram como pedras lançadas num teto de frágil vidro: declarações de que pessoas vivendo com HIV/aids são despesas para a sociedade; revisão dos critérios para acesso a benefícios previdenciários e aposentadorias; demissão de gestores e técnicos com larga experiência em políticas públicas e comunicação em saúde no campo do HIV/aids; desestruturação do aparato administrativo voltado à aids e outras infecções sexualmente transmissíveis no Ministério da Saúde. As pessoas com quem mantinha interlocução na pesquisa passaram a narrar experiências de sofrimentos diversos, em geral produzidos ou intensificados pelo medo de perder o acesso à terapia antirretroviral, como analisei em outro trabalho. Um dos interlocutores chegou mesmo a dizer que estávamos diante de um “conto de terror dos anos 80”.
Diante da vulnerabilidade da política de aids, as ações estatais naqueles anos pareciam nos alertar, como bem destacou uma interlocutora, que “há perigo na esquina”. Como lutar? Como ir às ruas em protesto? Como protestar sem dizer de si? Nessas situações, Néstor, eu me via também aterrorizado e me preocupava com o quanto os discursos sobre a redução do estigma da aids é uma falácia. Os dados do Índice de Estigma da Aids no Brasil são alarmantes. As pessoas que mantêm a sorologia positiva para o HIV em segredo costumam fazê-lo não por serem discretas, reservadas, quase que “fora do meio”, mas porque temem os efeitos nefastos do estigma em suas vidas. Emerson Inácio coloca com precisão cirúrgica que, nessas circunstâncias sócio-históricas, a doença segredo é uma forma atualizada de morte social, “visto que se não mais se morre por HIV, continua-se ainda a morrer no silêncio da impossibilidade de revelação da situação sorológica das pessoas; na rejeição advinda de uma exposição pública, o que envolveria a morte dos afetos e mesmo, ainda, aspectos como vergonha, silenciamento, abandono, mesmo em se tratando da existência de tratamentos eficazes como os que há hoje”.
Escrever sobre isso, Néstor, me mobiliza emocional, política e intelectualmente. Como alguém que vive, milita e pesquisa com e sobre HIV/aids, sinto-me como quem se vê diante do imenso desafio de nos arrancar da clausura do segredo para uma avenida de vidas e linguagens. O lema que marca a atuação da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS (RNP+Brasil) – “antes nos escondíamos para morrer, hoje nos mostramos para viver” – nunca foi tão atual e urgente, guardadas as especificidades e contextos de cada pessoa. Neste final do ano de 2022, a sociedade brasileira se vê novamente diante da possibilidade de esperançar futuros outros na condução política do país e em cotidianos que se remodelam após a tragédia da covid-19 – uma outra pandemia que eclodiu em 2020. Companheiro Néstor, adoraria poder sentar contigo numa mesa de bar qualquer e te ouvir sobre questões que me acompanham há um tempo: que efeitos a memória e o lembrar podem produzir no estigma da aids? Como podemos nos engajar na produção de uma política de memória que faça frente ao estigma, às violências e às discriminações que ainda nos assolam? São as políticas de memória uma de nossas tarefas históricas no Brasil que se quer unido e reconstruído? Sigo no desafio apontado por Herbert Daniel de que “(…) temos que renomear nossos dias, para evitar inclusive que dias e aids sejam anagramas. Outras letras, para escrever tempos outros”.
Com saudades, do seu sempre leitor,
Lucas Melo
Ribeirão Preto, 26 de novembro de 2022
* Lucas (ou CaLu) Melo é pernambucano, escritor, antropólogo e enfermeiro sanitarista que vive em Ribeirão Preto. Atua como Professor Doutor na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, já tendo lecionado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Foi professor/investigador visitante na Universidade de Coimbra e na Universidade de Lisboa, em Portugal. Secretário nacional executivo da RNP+Brasil. Membro e um dos fundadores do Fórum Paulista de Saúde da População Negra. Representante suplente da RNP+Brasil na Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Saúde (Brasil). Membro do GT Saúde da População LGBTI+ da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Coordena o coletivo de pesquisadoras/es que integram o TRAMAS – Laboratório de Pesquisas Sociais em Saúde (USP/CNPq). É autor de “Batemundo: um diário de desejos” (2020) e de um conjunto de trabalhos acadêmicos que integram sua produção científica.