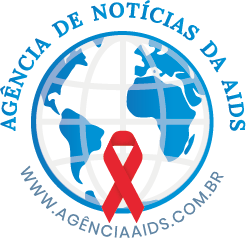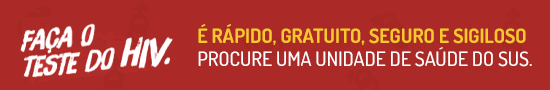Roraima é o estado mais indígena do Brasil. Seu nome foi presente de índio venezuelano e significa monte verde. O caminho percorrido pelos refugiados é mais marrom do que esverdeado. Na estrada, agora mais asfaltada e menos despovoada, graças ao número de imigrantes que buscam fugir de doenças e fome, as roupas e malas dão o colorido. Com a Venezuela bradejando a crise econômica, aqueles que antes eram visitantes e até nome deram ao estado, hoje são indesejados. Os Warao foi a etnia indígena venezuelana mais afetada.
Como refúgio, eles encontram Boa Vista. Mais perto de Miami do que de São Paulo, a capital roraimense tenta escancarar ao restante do Brasil que precisa de ajuda. A cidade sedia o abrigo que agora serve de aldeia. As ocas e cabanas feitas de capim embrenhadas no delta do rio Orinoco, no norte da Venezuela, foram substituídas pelas barracas cedidas pela defesa civil brasileira e um grande galpão preenchido por redes coloridas. Pronto. Ali é o novo lar.

São 619 indígenas das etnias Warao (a segunda maior da Venezuela), Pemon e Panare que têm como novo domicílio, o bairro da Pitolândia. Metade deles são crianças. Basta entrar com “roupa e cara de brasileiro” que começam a te abordar. Querem saber de onde você vem, adoram tirar foto e o principal: “quer comprar artesanato?”.
É nesse contexto que vivem Eliazar Garlonas e Eidomar Lorenzano. Dois soropositivos em uma aldeia venezuelana improvisada no meio do extremo norte brasileiro.
Ao chegar no abrigo em busca dos portadores de HIV, me dirijo aos voluntários da Fraternidade Federação Humanitária Internacional de maneira discreta. Não quero chamar atenção para uma doença que se tornou fábrica de estigma desde que começou a dizimar vidas nos anos 80. Em uma comunidade tão pequena como aquela, o efeito de revelar a sorologia positiva de um refugiado poderia ser desastroso, pensei. Ledo engano.
São conhecidos como “os meninos que tomam remédio todo dias”, às seis da tarde. A maioria não faz ideia para que servem aqueles comprimidos. Deve ser uma enfermidade qualquer.
A timidez natural é somada à dificuldade de compreenderem porque alguém sairia de de tão longe para perguntar sobre isso, o HIV.
É só mais um vírus
Eliazar tem 22 anos. Foi diagnosticado no ano de 2013 enquanto tentava dar cabo ao ensino médio. A réplica sobre o porquê de estar no Brasil é sucinta. “Não há comida, nem remédio”. É a frase que não sai da boca de qualquer um deles. Tão simples quanto a maneira com que se portam.
Instalado junto com a família desde dezembro do ano passado, Eliazar é um dos braços direito do corpo de voluntários que atua no abrigo. Todo horário de almoço e jantar ele bate ponto para ajudar na cozinha.
Para um país onde ainda há quem revela não ter a audácia de comer alimento preparado por um soropositivo, Eliazar é quase uma afronta. Para os indígenas da Pitolândia, é mais um colega refugiado, mais um que ajuda, mais um que fugiu em busca de vida.

“O tratamento lá era muito duro”, conta ele. Na verdade, Eliazar não teve tratamento desde o diagnóstico. Quando se vê o rosto corado e braços fortes, apesar de magro, é difícil imaginar a cena do menino indígena à beira da morte internado durante um mês, em Boa Vista.
“Agora pelo menos, já juega”, diz o amigo Eidomar. “Já joga”, se referindo à tradicional partida de futebol de areia que acontece ali mesmo, dentro do abrigo, todo fim de tarde. Está satisfeito.
“Preservativo…? Camisinha…?”
Quando pergunto a idade de Eidomar, a resposta é hipotética. “Tenho 21, 22, por aí.” Na realidade indígena, não é sempre que se executa a invenção de homem branco que registra no papel o dia em que se veio ao mundo. Por outro lado, a data de diagnóstico do HIV é mais certeira. Foi em 2014 que ele iniciou o breve tratamento. Primeiro, faltou dinheiro para ir até o posto pegar medicamento – a três horas de distância. Depois, sequer haviam remédios.

Os seis irmãos estão no abrigo instalado à beira da linha fronteiriça. Eidomar se distanciou 215 km da família em nome do tratamento. Se não, estaria lá com eles. Ou estaria com a noiva que ficou na Venezuela. “Queria me casar com ela. Mas tive que vir pelo tratamento.”
Agora, os dois estão trocando ideias e flertes com duas índias do abrigo. Com naturalidade, lancei a pergunta sobre o uso de preservativo nos próximos relacionamentos. O retorno é espantoso: “Preservativo…?”, pergunta Eliazar. Tento usar palavra substituta que talvez lhe soasse mais familiar: camisinha. A nova resposta também é sinônimo da anterior. “Camisinha…?”. Eidomar intervém e diz: “Sim caminha… algo que se coloca…”, e sorri sem graça enquanto cogita explicar o que é o substantivo desconhecido, mas desiste. Eliazar apenas balança a cabeça da direita para a esquerda. Desconhece a nova palavra.
Com o árduo desafio da conscientização – trabalho que não é apenas de responsabilidade Fraternidade – a equipe da ONG decidiu que é melhor o medicamento ficar na administração do abrigo. “Se deixar na mão, eles não tomam”. Só assim para aderirem ao tratamento. Com controle externo. Esse é o jeitinho para driblar a cultura enraizada onde raras são as oportunidades de falar sobre sexualidade e prevenção. Mais raro ainda, o interesse das autoridades e profissionais de saúde se posicionarem e trabalharem diretamente com comunidade como essas. Enquanto isso, a mescla de aldeia com campo de refugiados de Pitolândia segue vulnerável.
Jéssica Paula (jessica@agenciaaids.com.br)
Veja as outras reportagens da série “Aids e refugiados em Roraima”:
A vida de quem veio ao Brasil em busca de antirretrovirais
Estrutura precária com que venezuelanos são recebidos no Brasil abre portas para crescimento do HIV