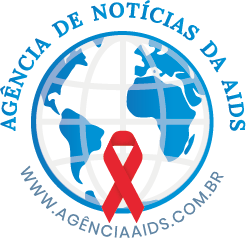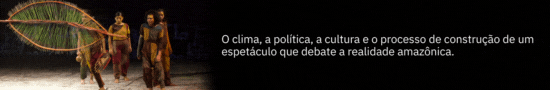A epidemia de HIV/aids ainda é um grande problema de saúde pública mundial, e é um tabu na sociedade, que pouco avançou com relação ao estigma e discriminação relacionados ao vírus. Aqui no Brasil, onde no último período vemos um recrudescimento do discurso conservador e de tolhimento das pautas progressistas, inclusive da liberdade sexual e identitária (contraditoriamente num momento em que estas mesmas sexualidades e identidades de gênero estão cada vez mais reivindicando seus lugares sociais), a epidemia está envolta em uma verdadeira contradição.
A epidemia de HIV/aids ainda é um grande problema de saúde pública mundial, e é um tabu na sociedade, que pouco avançou com relação ao estigma e discriminação relacionados ao vírus. Aqui no Brasil, onde no último período vemos um recrudescimento do discurso conservador e de tolhimento das pautas progressistas, inclusive da liberdade sexual e identitária (contraditoriamente num momento em que estas mesmas sexualidades e identidades de gênero estão cada vez mais reivindicando seus lugares sociais), a epidemia está envolta em uma verdadeira contradição.
Este paradoxo consiste em termos um avanço científico a nível mundial no tratamento do HIV através da terapia antirretroviral (TAR) – no Brasil disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde – que proporciona às Pessoas Vivendo com HIV ou Aids (PVHA) que fazem o tratamento há mais de seis meses o status de “carga viral indetectável” (quando a contagem do vírus no sangue é indetectável nos exames e, logo, insuficiente para o contágio via sexual), bem como disponibiliza uma expectativa de vida semelhante à da população geral, desde que somada a ações de cuidado integral do indivíduo. Todavia, o Brasil tem enfrentado um desmantelamento de conquistas sociais, de direitos, e inclui-se nisso a resposta brasileira à epidemia de HIV/aids, que já foi referência mundial.
Na contramão mundial, e seguindo um modelo basicamente biomédico e com pouca priorização de pautas estruturais e sociais, o Brasil vem enfrentando um aumento de adoecimento por aids e da decorrente mortalidade por aids (cerca de 12 mil mortes por ano – 32 por dia em média), um enegrecimento dessas mortes (mulheres negras morrem proporcionalmente três vezes mais que o restante da população no estado de São Paulo, segundo o Programa Estadual de IST/Aids de SP, e 21,5% das PVHA pretas morreram em decorrência da aids, sem nunca ter iniciado o tratamento), e o número de novas infecções também está em ascensão, principalmente na juventude entre 15 e 24 anos.
Segundo o DIAHV (Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais), no boletim epidemiológico de 2017, no período de 2007 a 2017, no que se refere às faixas etárias, observou-se nos registros do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) que a maioria dos casos de infecção pelo HIV encontra-se nas faixas de 20 a 34 anos, com percentual de 52,5% dos casos. Com relação à faixa etária que mais aumenta a infecção de HIV (de 15 a 24 anos), nos anos de 2016 e 2017, somente, foram notificados 13.295 casos de HIV, sendo 10.392 em jovens do sexo masculino e 2.903 mulheres.
As respostas dadas pelo establishment para responder a inequação sobretudo de 2016 para cá, são todas parecidas em seu conteúdo: consiste em culpabilizar as PVHA, sobretudo as juventudes, que em tese são irresponsáveis, quebram regras (ora, “só nossa geração”, não é mesmo?), e a pior frase de todas: “não tem mais medo da aids”. Ou como o ministro da saúde, Ricardo Barros, declarou em entrevista à revista Época, que temos muito tempo “vago”, e por isso estamos nos infectando mais com infecções sexualmente transmissíveis (IST). Na literalidade ele disse: “Tecnicamente, os jovens têm mais tempo para transmitir. Mas acredito que isso se dá mais por uma flexibilidade de comportamento da sociedade, que é mais recente”.
Estas narrativas, que podem ser consideradas como terrorismo de Estado e também como violência racial e de classe, na verdade querem dar respostas fáceis e palatáveis a uma inequação do caso brasileiro (nem equação consigo considerar), de um país que disponibiliza a TAR pelo SUS, tem Programas Estaduais de IST/Aids, disponibiliza camisinhas e agora se locupleta em trazer a tecnologia da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) — que consiste em antirretrovirais que são tomados diariamente para evitar a infecção do HIV, e ainda assim enfrenta números alarmantes explicitados no parágrafo anterior. Um país que vem desmontando suas políticas sociais, o SUS, e aprova o teto dos gastos públicos por vinte anos com a EC 95 e não quer admitir que as falhas no sistema de saúde são estruturais. Que as falhas na adesão têm a ver com estigma e discriminação, com racismo, com vulnerabilidade social, com fechamento de Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), desmonte de Programas Municipais de IST/Aids pelos interiores afora…
A juventude torna-se, portanto, um segmento da sociedade mais vulnerável para a construção dessas narrativas hegemônicas de culpabilização e também à própria epidemia de HIV/aids, junto com populações que são historicamente oprimidas, como a população LGBT e a população negra. Entre 2006 e 2015 a taxa entre aqueles de 15 a 19 anos mais que triplicou, passando de 2,4 para 6,9 casos a cada 100 mil habitantes. Entre as pessoas de 20 a 24 anos a taxa dobrou, passando de 15,9 para 33,1 casos a cada 100 mil habitantes.
Mencionando a “inequação” citada acima, é muito mais fácil colocar a culpa na irresponsabilidade dos jovens, ou na nossa vontade sexual sem proteção do que admitir a proibição de discussão de gênero e sexualidades na Base Nacional Curricular Comum; ou ainda o não cumprimento da lei 11.645/08 que institui o ensino da História da África e Indígena nas escolas. Ou a falta de campanhas massivas contra o estigma e discriminação do HIV/aids, políticas comunitárias de prevenção, e não campanhas somente de marketing.
As opressões, neste cadenciamento, são acumulativas. Portanto, a faixa etária é acompanhada de diversas outras vulnerabilidades (leia-se violências) sociais, tais como as raciais, de classe social, as de gênero (machismo), territoriais, educacionais e de acesso ao trabalho. Tudo é concomitante. Isto posto, faz-se necessário considerar que todas as negações de direitos, exclusões, a não-autonomia do próprio corpo, a alienação sobre seu lugar na sociedade, uma ausência de uma política estatal eficaz para pautar saúde sexual e reprodutiva, faz com que a/o jovem seja jogado ao léu bem no início de sua vida afetiva e sexual. Jogado ao léu tal como na infância.
E quanto mais abaixo da pirâmide social formos, se for da juventude pobre e negra das periferias que morrem massivamente pelas mãos do Estado (a cada 23 minutos um assassinato de jovem negro acontece no país), da população LGBT jovem e pobre, das mulheres trans que são compulsoriamente empurradas para a prostituição nesta faixa etária por falta de acesso ao trabalho e amargam uma expectativa de vida de 35 anos, juntamente com os homens trans, daí estamos falando de uma avalanche histórica jogada nas costas destas e destes indivíduos, que os vulnerabilizam às epidemias (o fato de a cada 3 mortes por aids, 1 ser em decorrência da tuberculose, não é mera coincidência).
Mas, que caminhos podem ser percorridos? Talvez o primeiro passo seria ouvir tantas pensadoras/es como Angela Davis e outras que tanto falam sobre a interseccionalidade do racismo, das diferentes opressões e das condições sociais (classe), e seguir exemplos históricos de resistência e reação. Exemplos históricos temos aos montes, desde a resistência ameríndia, indígena, os quilombos, a Revolta dos Malês, as greves gerais, a movimentação das PVHA nas décadas de oitenta e noventa por vida, por medicação… Respeitar esse legado histórico e usufruir dele também é importante.
Agora, o que torna-se urgente, mesmo, é deixar de priorizar os aspectos puramente biomédicos e higienistas ainda impressos nas narrativas hegemônicas – por exemplo: prevenção combinada sem levar os aspectos sociais e o SUS em conta, só focando na Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de maneira restrita, na Profillaxia Pré-Exposição (PrEP) e na camisinha (esta última majoritariamente), ou numa hierarquização das PVHA entre indetectáveis e pessoas adoecidas (estas últimas colocadas muitas vezes, assim como as/os jovens, como irresponsáveis, e pior, fracassadas). Prevenção se faz comunitariamente, com pé no chão, com a participação coletiva, e não só com remédio e camisinha. Falar de vivência do HIV/aids não pode estar em segundo lugar nas pautas, para se priorizar a prevenção daqueles que não vivem com HIV. Não dá para falar de tratamento nem de prevenção secundarizando as mulheres cisgêneras e trans. Precisamos nos comunicar com as juventudes, tê-la como parceira no enfrentamento à epidemia, sem, no entanto, transferir o “protagonismo” do Estado para o movimento social (ou para a juventude, no caso da culpa).
Ao Poder Público cabe estipular políticas afirmativas para as juventudes e as populações vulneráveis (oprimidas), sem desfocar do fortalecimento do SUS e das políticas universais e coletivas de direito à saúde, educação, trabalho e assistência social (sim, muitas e muitos não aderem tratamento por falta de emprego e recursos e perspectivas de vida na juventude). Precisamos de um plano de metas para redução da mortalidade por aids, políticas massivas de prevenção, uma Política de Enfrentamento à Discriminação e Estigma do HIV/aids, fortalecimento das ações sociais das juventudes, precisamos da Política de Humanização do SUS de 2003 funcionando. Necessitamos de fortalecimento dos Grupos de Trabalho, dos Programas de IST/Aids já existentes, de ações afirmativas para a juventude que nasceu com HIV e possui especificidades em sua vivência… E para o movimento social este é o momento de construirmos agendas em comum para a defesa intransigente de um SUS anticapitalista, universal e gratuito, e de nossos direitos, assim como pela mudança social necessária para o fim dessas iniquidades.
Segundo o Estatuto da Juventude, é garantido ao jovem “promoção da autonomia e emancipação”; “promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem”; “respeito à identidade e à diversidade individual e coletiva da juventude”; “promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação”. As juventudes, portanto, não podem ser relegadas ao lugar de inconsequência, principalmente num momento de aprofundamento do neoliberalismo, de profunda retirada de direitos trabalhistas, sociais, econômicos, de ataques à previdência social, ao SUS, aumento da violência policial e urbana, que deixa as juventudes com perspectivas de vida cada vez mais envoltas à falta de segurança (jurídica, física, social e de emprego), mais vulneráveis com o desmonte das políticas públicas.
* Carlos Henrique é escritor, militante do movimento negro, da Rede de Jovens SP+, do coletivo Loka de Efavirenz e da Nova Organização Socialista (NOS).