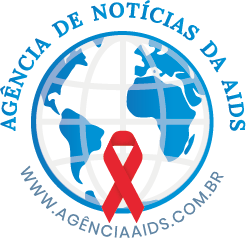I=I se trata de uma comprovação científica que visa levar uma mensagem para o mundo: pessoas que vivem com HIV/aids (PVHA) e que estão em tratamento com antirretrovirais e que tenham reduzido a carga viral na corrente sanguínea à indetectabilidade não transmitem o HIV.
I=I se trata de uma comprovação científica que visa levar uma mensagem para o mundo: pessoas que vivem com HIV/aids (PVHA) e que estão em tratamento com antirretrovirais e que tenham reduzido a carga viral na corrente sanguínea à indetectabilidade não transmitem o HIV.
Esta mensagem é respaldada por uma série de estudos científicos nacionais e internacionais e tem adquirido ares de campanha global, embora com muito mais força na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá.
A campanha I=I (internacionalmente conhecida como U=U (Undetectable equals Untransmittable) conta atualmente com uma “comunidade de parceiros” envolvendo 720 organizações de 93 países, abrangendo múltiplos atores e de diferentes esferas sociais, tais como integrantes de movimentos sociais, ONGs, universidades, Estado, mercado, inclusive com a presença de grandes farmacêuticas.
Estes estudos representam um marco para a epidemia de ‘aid$’, e têm o potencial de ressignificar a forma como o “corpo-aidético” foi construído pelos discursos médicos, epidemiológicos, por gestores de políticas públicas, pela mídia, e que tem moldado a opinião pública ao longo de quase 40 anos de epidemia.
Nós, pessoas que vivem com HIV/aids sentimos cotidianamente o que significa estar vinculado à uma bioidentidade de risco, à uma noção de corpo vetor que pode “contaminar” as pessoas. E agora, quando se tem acesso ao tratamento e adesão aos antirretrovirais, tem-se a possibilidade de ressignificar o nosso corpo, mesmo que diante das profundas dificuldades apresentadas em decorrência do uso crônico de medicações, bem como em relação aos efeitos colaterais de medicações já ultrapassadas e até mesmo proibidas em algumas partes do mundo; além da interação medicamentosa entre terapia antirretroviral e uso de hormônios e anticoncepcionais. Assim, mais do que nunca podemos vislumbrar o fim da percepção de que apresentamos algum tipo de risco à sociedade, de que seríamos um “corpo-vetor”.
A campanha I=I tem, portanto, muito potencial para incidir sobre diversos usos políticos desta mensagem. Longe de tentar esgotar esta discussão, exponho aqui alguns outros usos que têm sido considerados diante nossa realidade política.
Para além do estigma e da discriminação como “corpo-vetor”, é preciso vislumbrar o potencial desta mensagem contra o avanço global da criminalização da transmissão do HIV, e que também é fruto deste estigma construído. Em relação a esta pauta, é preciso que, a priori, façamos algumas considerações. É preciso dizer inicialmente que vivemos o maior encarceramento em massa da história da humanidade.
Encabeçado pelos EUA, conforme nos diz Angela Davis, o objetivo deste projeto de sociedade é aprisionar determinados grupos sociais, sobretudo as populações negras, os imigrantes, e cada vez mais mulheres e populações LGBTTQI+ tanto como forma de lidar com a diferença, isto é, matando-a ou enjaulando-a, mas também para gerar lucro.
Por exemplo, a empresa norte-americana G4S é hoje umas das maiores mega corporações vinculada ao ramo da segurança privada e está envolvida na construção de presídios (privados) e muros no mundo todo, do México à Palestina, e promovendo apartheids no século XXI. Não é à toa que a criminalização da transmissão do HIV está prevista em muitos estados dos EUA, o que tem gerado ainda mais encarceramento desses segmentos populacionais e, por óbvio, das PVHA.
Mas eles não estão sozinhos nesse projeto de encarceramento. Outros países no mundo também estão bastante engajados em transformar questões sociais e de saúde coletiva em caso de polícia. É o caso do Canadá, por exemplo, que permanece indiciando as PVHA por não revelar seu status sorológico aos parceiros sexuais, bem como têm sido acusadas e condenadas mesmo quando não há qualquer possibilidade de transmissão do vírus. Ou seja, esses indivíduos estão sendo criminalizadas por serem soropositivos.
E estes fenômenos não estão longe de acontecer no Brasil. Aliás, por aqui o debate em torno da criminalização da transmissão do HIV está presente desde os anos 1990, nos fazendo confrontar as inúmeras tentativas de se criar leis específicas ao longo desses anos, mobilizando as alas mais conservadoras em prol da criminalização. Os argumentos articulados para justificar estas respostas têm sido em grande parte atreladas às perspectivas de um corpo perigoso e que representaria um risco à sociedade. Prova disso é o Projeto de Lei 198/2015, de autoria do então deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS), representante da bancada da bala (aquela que reúne ex militares, etc.), cujo objetivo era tornar crime hediondo a transmissão do HIV, mas que foi barrado devido a forte articulação do movimento social de aids.
Cabe dizer ainda que, neste caso mais recente, as principais justificativas apresentadas estavam vinculadas ao “Clube do Carimbo” que, verdade ou não, tem passado pela “curadoria” midiática (Fantástico, Folha de São Paulo e infinitas outras) e tem sido transformado em pânico moral, resgatando a perspectiva de um corpo homossexual como vetor e responsável pela epidemia de aids, construindo uma representação do “corpo-aidético” como um monstro social. Este “monstro”, segundo os discursos que dão sustentação ao projeto de lei estaria “irresponsavelmente” “disseminando” o vírus na sociedade, muito embora já se tinham estudos que comprovavam que I=I.
Na verdade, assim como no Canadá, não se trata propriamente de criminalizar a transmissão, sobretudo porque não se tem muitas vezes como comprovar de onde veio o vírus, mas sim de criminalizar o corpo positivo.
Outro uso político que tem sido articulado a partir da campanha I=I diz respeito a potencialidade em se pressionar Estados e governos no sentido de promover o acesso universal e gratuito aos antirretrovirais para todas as PVHA.
Talvez no Brasil isso também possa ser útil neste sentido. Muito embora por aqui tenhamos uma lei específica que assegura a distribuição gratuita dos antirretrovirais via SUS (Lei Nair Britto ou 9.313/1996) não é o que tem acontecido em diversos estados, cidades e municípios.
Aliás, desde 2016, tem crescido uma série de denúncias acerca da falta de testes rápidos, exames de CD4, de carga viral e também racionamento e até mesmo falta de antirretrovirais, e a justificativa que se tem do Ministério da Saúde é de que existe um problema de logística entre Governo Federal, estados e municípios, impossibilitando muitas vezes o repasse do medicamento.
Contudo, é preciso que estejamos atentas à realidade política do Brasil. Mais do que a crise econômica, a crise política aqui instaurada pelas grandes elites tem como propósito interromper os avanços dos direitos duramente conquistados ao longo de décadas. Nesse sentido, a Emenda Constitucional 55 aparece como respostas das grandes elites aos avanços desses direitos e congela por 20 anos os gastos com a saúde pública e com a educação, desmantelando o ensino básico, médio e superior, e pondo um fim à ciência no Brasil; além de destruir o maior sistema de saúde pública do mundo, o SUS, e produzindo um número inimaginável de mortes de brasileiros e muitos imigrantes refugiados que têm buscado abrigo no Brasil. Assim, para um país que até pouco tempo era tido como referência na luta contra a aids, mesmo somando anualmente cerca de 12 mil mortos em decorrência desta epidemia, jamais poderá vislumbrar um futuro melhor em um cenário que não prioriza uma educação gratuita, de qualidade e acessível a todos, e que tampouco pretende garantir um cuidado básico com a saúde de sua população via sistema público e gratuito, e que atende hoje via SUS cerca de 70% da população brasileira ou 150 milhões de pessoas, sendo que destas 80% se autodeclara negra.
Ademais, é preciso que consideremos ainda uma outra questão igualmente fundamental: quem está aderindo ao tratamento e ficando indetectável e quem não está? Por que ainda há pessoas que não conseguem atingir tal status e como estas pessoas têm sido vistas e tratadas?
Há muitas questões que precisam ser consideradas quando falamos em adesão aos antirretrovirais. Algumas delas são de ordem econômica, racial e regional. É preciso que nos questionemos onde estão os aparelhos especializados de saúde isto é, estão em grandes cidades? Suas instalações estão longe das populações que vivem nas periferias, no interior dos Estados e em áreas rurais? Como acessar determinados serviços tendo que viajar para grandes centros? Nesse sentido, como alguém que tem que viajar por 5 horas para pegar sua medicação pode receber remédios fracionados para uma semana, ou apenas dias, como tem acontecido constantemente?
Outra questão fundamental que precisa ser levada em consideração é se as pessoas tem acesso à alimentação. Todas nós que fazemos uso de medicamento, mesmo que não seja por tempo prolongado ou crônico, sabemos da importância de uma alimentação equilibrada, constante e saudável. O problema é que, diante das profundas dificuldades financeiras, muitas de nós não temos a possibilidade de tomar remédio de barriga cheia, gerando profundos problemas para nossos corpos e acentuando os efeitos colaterais das medicações. Além disso, é preciso considerar que para que possamos nos alimentar, é preciso que tenhamos capital, muito embora o atual cenário do mercado de trabalho para as PVHA seja assustador: cerca de 60 a 70% desta população está fora do mercado formal de trabalho.
Outros fatores relacionados também precisam ser considerados, tais como diagnóstico tardio, revelando a falta de testagem e tratamento adequado para determinadas populações, já que o grande foco epidemiológico tem sido desde o início da epidemia homens que fazem sexo com homens – HSH -, sobretudo gays, e inclusive invisibilizando e desrespeitando outras identidades de gênero e outras orientações sexuais, e sobretudo as populações negras. Hoje, apesar do número de infecções estar crescente em homens gays, a mulher negra é proporcionalmente a que mais morre em decorrência da aids, morrendo cerca de 3 vezes mais do que as mulheres brancas. E em relação às travestis, ainda não se tem produzido muitos dados porque foram por muito tempo invisibilizadas pela categoria HSH. E não considerar a existência dessa população no sentido de promover ações específicas de saúde pública é um dos primeiros passos à vulnerabilização histórica que resulta em mortes, e que transformaram o Brasil de 2018 no país que mais mata travestis e transexuais no mundo.
Ainda sobre tensionamentos de raça e de gênero, é preciso pensar como ficam as pessoas de transmissão vertical e que fazem uso prolongado de medicação? O elevado número de pessoas que nascem com HIV diz sobre a negligência programática do Estado para com essas mulheres, e que são em sua grande maioria negras. Há um dado do Sinan inclusive que diz que, no Brasil, entre 2000 e 2017 foram notificadas 108.134 mulheres grávidas vivendo com o vírus, e entre 2006 e 2016, 61,9% dos novos casos de infecção por HIV entre grávidas foi entre mulheres negras.
E como ficam as pessoas que adquirem resistência aos antirretrovirais? E as que decidem não tomar a medicação?
São muitos tensionamentos que devem ser pensados com profundidade para que sejamos mais críticos e sensíveis em relação às questões em torno da “aderência” e da indetectabilidade. Isto é, pensar que é bastante difícil, e pode soar até mesmo contraditório encabeçar esta campanha sem, ao mesmo tempo, revogar o golpe institucional e barrar a onda de retirada de direitos no Brasil. Afinal, como seria possível conciliar a crise do sistema capitalista a um sistema que preza tanto pela prevenção, pelo corpo “saudável” e intransmissível?
Por fim, é preciso que pensemos em âmbito global. Os países que mais tem se articulado e impulsionado a campanha I=I são países ditos “centrais”, de “capitalismo avançado”, e que estão envolvidos em projetos imperialistas e colonizadores, e que por conta disso podem garantir melhores condições de vida para suas populações brancas. Se analisarmos o mapa que mostra o engajamento internacional em torno da campanha, veremos a discrepância entre “norte” e “sul” global (disponível aqui: preventionaccess.org/community). E isso nos oferece a possibilidade de pensar em quem o sistema capitalista realmente favorece em escala global, e também problematizar criticamente quem pode ter acesso à indetectabilidade e, por consequência, à intransmissibilidade. O sistema capitalista é um sistema econômico colonizador branco da europa e dos EUA, e é sobretudo a essas populações que ele funciona. Nós somos apenas a massa de trabalho e os corpos que possibilitam o lucro com a morte.
Enfim, são realmente muitas considerações em torno do engajamento da campanha I=I. E é necessário debater criticamente o sistema capitalista, que nega acesso a uns e permite com que outros sobrevivam e vivam sua vida sem estigma e com menos discriminação, mas que ao mesmo tempo inviabiliza recursos para outras populações, sobretudo as que fogem aos padrões de normalidade mundialmente impostos via imperialismo e colonização. Além disso, faz-se igualmente necessário debater a humanização da saúde, pois precisamos reconhecer os processos que vulnerabilizam determinados corpos e que criam impedimentos. Fazer este movimento é impedir com que se crie inclusive castas entre pessoas que vivem com HIV/aids, sobretudo através da responsabilização individual pelo direcionamento com cabresto e que não permite olhar para o lado e ver a real situação das outras pessoas que não o Eu branco capitalista. Esta lógica separa corpos indetectáveis de corpos que não atingem, por infinitas razões e vulnerabilizações históricas, este status da intransmissibilidade. E nós não podemos cair nesta cilada segregacionista.
* Pisci-Bruxa é ativista, membro da articulação política da Rede de Jovens SP+, uma das fundadoras do Coletivo Loka de Efavirenz, mestranda em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, pesquisa o processo de criminalização da transmissão do HIV e não tem medo.